
14º Acampamento Terra Livre - Foto Rogério Assis Mobilização Nacional Indígena
UM PASSADO E SEUS FUTUROS: COMO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL É ATRAVESSADA POR DIFERENTES TEMPORALIDADES E POR QUE ISSO IMPORTA PARA O PRESENTE
Rodrigo Turin
“O passado nunca está morto. Nem sequer é passado”. A célebre frase de William Faulkner tem sido recuperada nos últimos anos por diversos historiadores para expressar uma mudança de sensibilidade em relação ao tempo. Em oposição a uma visão do passado como “aquilo que passou” ou como “algo que não mais existe”, essa nova sensibilidade temporal tem apontado para as diferentes formas como o passado se faz presente. Isso é mais evidente, à primeira vista, para as experiências traumáticas do século XX, como o Holocausto ou as violências das ditaduras latino-americanas, que continuam a assombrar o nosso tempo contemporâneo. Mas essa mesma ideia também é pertinente, de maneira mais geral, para os passados fundantes da nossa ordem político-social, como é o caso da Independência. Dito de modo mais claro: a Independência, como experiência histórica, não pode ser reduzida a uma série de eventos singulares ocorridos há 200 anos, mas deve ser entendida como algo que reverbera profundamente e de diferentes modos em nossa experiência presente – queiramos ou não.
E o que significa isso, objetivamente? Significa que pensar esse passado, hoje, implica um duplo exercício: entender o modo como ele ainda nos constitui e, simultaneamente, as formas como nós o constituímos. No primeiro caso, é fundamental entender como esse evento criou novas realidades que ainda nos afetam, como o Estado-nação ou a ideia de um “povo brasileiro”, mas também um modo próprio de conceber o tempo. A construção dessa realidade política, o Estado-nação brasileiro, dependia de uma nova forma de legitimação e de orientação do poder. Se, no Antigo Regime, os monarcas absolutistas tinham suas legitimidades assentadas em princípios teológicos ou dinásticos, não precisando que seus súditos se reconhecessem como integrantes de uma história comum, o Estado-nação demandava a criação de uma identidade homogênea, cujo tecido era a própria temporalidade. No mesmo movimento em que a ideia moderna de soberania cobrava um vínculo representativo entre o Estado e a sociedade, formava-se um novo conceito de história que reordenava as relações entre passado, presente e futuro. A singularidade da nação deveria se espelhar na singularidade de um tempo nacional, abarcando todos os sujeitos que, a partir de então, deveriam ser entendidos como “brasileiros”.
Nesse processo de singularização e homogeneização do tempo nacional muitos foram hierarquizados ou simplesmente excluídos, como é o caso das mulheres, dos indígenas e dos escravizados. Afinal, a homogeneização do tempo da nação implicava a universalização de uma singularidade, no caso, a do homem branco e proprietário. A temporalidade da cidadania era, portanto, assimetricamente distribuída ou mesmo vetada, de acordo com os corpos e as posições sociais. E isso implicava todo um gerenciamento político e social, com suas tecnologias próprias, definindo quem podia votar, quem podia ser eleito, quem podia se manifestar, mas também quem podia ser narrado como agente histórico. Uma dessas tecnologias de sincronização nacional foi a própria disciplina histórica. Caberia a ela posicionar diferentes sujeitos, espacialmente distintos, em um mesmo tempo – fazendo-os reconhecerem-se em um mesmo presente, herdeiros de um mesmo passado, construtores de um mesmo futuro.
É certo que a elaboração desse tempo nacional também permitiu a sua disputa e mesmo sua contestação, por mais restringidas e limitadas que fossem. Desde a Independência temos vários exemplos – resgatados de forma contundente pela historiografia contemporânea – das resistências dos sujeitos subalternizados, reivindicando espaços e reelaborando formas de figuração do futuro nacional. De todo modo, não há como negar a hegemonia daquela temporalidade singular e linear na sincronização dos indivíduos e das instituições, orientando-os a um futuro cuja promessa apontava para realização plena da homogeneidade nacional. Um futuro, é importante enfatizar, cuja força estava menos em sua concretização do que no ato mesmo da promessa sempre reiterada, e cuja funcionalidade era justificar os sacrifícios de cada presente e suas hierarquias. O tempo da nação sempre foi, portanto, um tempo sacrificial para boa parte de sua população, penalizada em nome de um horizonte grandioso a ser aguardado.
Talvez o que mais se destaque nos modos de relação que nosso presente mantém com o evento da Independência seja a perda da evidência daquela forma de futuro que marcou o tempo da nação. Uma pesquisa recente, promovida pelo Museu do Amanhã, indicou que 77% dos jovens manifestam incerteza em relação ao futuro, do mesmo modo como se constatou, em outra pesquisa, que 69% dos brasileiros acreditam que o país está em declínio. Sem contar os efeitos da crise climática, que ameaçam a própria existência de qualquer futuro humano. Não espanta, nesse sentido, que disputas políticas hoje recorram muito mais a imagens de passados idealizados perdidos do que propriamente a projetos de futuros diferentes e inéditos.
Tudo isso revela como aquele futuro da promessa da nação tem se tornado, em nosso presente, cada vez mais opaco e incerto, tendo sua própria existência colocada em questão. Esse esvaziamento da temporalização futurista e singular da nação também não deixa de estar estreitamente relacionado à emergência pujante daqueles outros tempos que foram repetidamente apagados em nome da sincronização nacional. Os tempos que se abrem com as lutas dos movimentos negro, indígena, quilombola, feminista, LGBTQI+, são tempos que não se colocam como simples substituições para uma nova monocultura temporal da ideia de nação. Eles representam, acima de tudo, uma forte reivindicação de formas próprias, alternativas e plurais de viver o tempo. Com isso, o modo de presença do passado da Independência, hoje, é marcado pelo desafio de enfrentar os efeitos da forma de temporalidade que herdamos dele, nos levando a considerar se é possível pensar a nação para além da singularidade temporal que a fundou. Um passado, enfim, que nos cobra outras formas de imaginar futuros, assim como novas perspectivas de futuros que nos demandam outras formas de visitar esse passado.

Saiba mais
KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: Novaes, Adauto (org.). A Outra Margem do Ocidente. São Paulo: Minc-Funarte/Companhia Das Letras, 1999.
PIMENTA, João Paulo G. A independência do Brasil como uma revolução: história e atualidade de um tema clássico. História da historiografia, Ouro Preto, v. 2, n. 3, p. 53-82, 2009. DOI: https://doi.org/10.15848/hh.v0i3.69.
TURIN, Rodrigo. Os tempos da Independência: entre a história disciplinar e a história como serviço. Almanack. Guarulhos, n. 25, ef00120, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2236-463325ef00120.
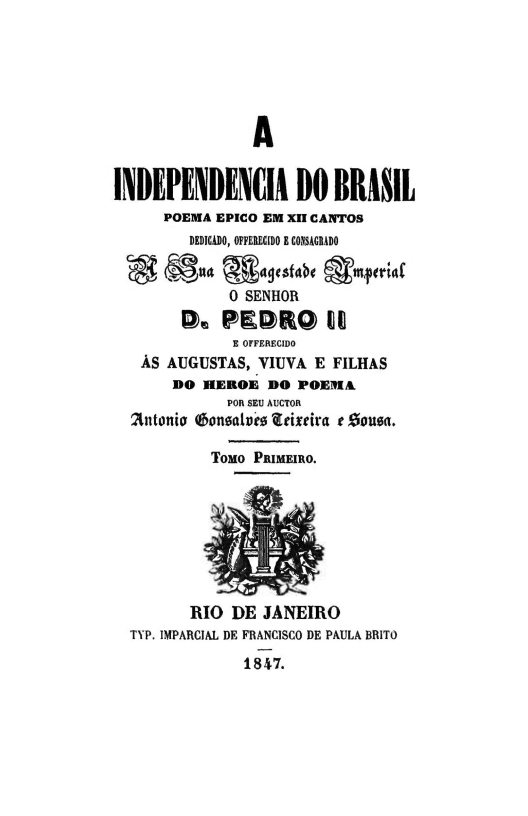
Um monumento para a memória da Independência do Brasil
A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM CANTOS:
TEIXEIRA E SOUSA E O MONUMENTO À HISTÓRIA DA NAÇÃO NO SÉCULO XIX
Eduardo Wright Cardoso
Entusiasmado com o que considerava ser um acontecimento único e exemplar, nosso artesão, carpinteiro de formação, reúne seus instrumentos para, nas suas próprias palavras, “erguer” um “monumento” à Independência do Brasil. Depois de quase cinco anos de dedicação, a primeira parte da obra é apresentada em 1847. A recepção inicial do público, contudo, deixa a desejar. As críticas e a indiferença o fazem vacilar. Recebe também, é verdade, elogios de amigos e admiradores. Não sem hesitar, o jovem artesão retoma o trabalho e, após mais alguns anos, o dá por concluído em 1855. Ainda que pouco conhecida, sua obra subsiste até hoje. Para conhecê-la não é necessário visitar algum Museu ou Arquivo; bastam alguns cliques. Isso porque, para erguer o monumento dedicado a um dos principais acontecimentos da história política brasileira, nosso carpinteiro não se valeu de um único prego e muito menos de um martelo. Como era versado também nas letras, ele optou por erigir seu monumento utilizando rimas e estrofes:
“Meu canto, onde só fala a natureza;/ Presta ouvidos à Lira Fluminense,/ Ajuda-me a vencer tamanha empresa!/ Ah! que se o vate tanto esforço vence,/ Maior honra não quer, maior grandeza!/ Pois tenho o prêmio na elevada glória/ De haver cantado ao mundo a Pátria História!” (Canto I, XXIX).
Esses versos são parte do poema épico A Independência do Brasil, de Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa. Afrodescendente nascido em uma família humilde de Cabo Frio, no ano de 1812, nosso artesão precisou aprender ofícios técnicos para garantir seu sustento, como a carpintaria e a tipografia, mas jamais abandonou o gosto pela literatura. Ao longo de sua vida que se estendeu até 1861, foi autor de diversas obras, escritas em diferentes gêneros literários: além da poesia, Teixeira e Sousa publicou, por exemplo, tragédias, como Cornélia (1840) e O cavaleiro teutônico (1855) e romances, como Gonzaga ou A conjuração de Tiradentes (1848-1851) e O filho do pescador (1843), este considerado o primeiro romance brasileiro.
A Independência do Brasil, contudo, talvez seja sua produção mais audaciosa. Afinal, o monumento é grandioso, não há dúvidas. A obra conta com 12 cantos e mais de 12 mil versos. É mais extensa, portanto, do que outras epopeias, como a Eneida, de Virgílio, a Divina Comédia, de Dante, ou Os Lusíadas, de Camões, obras que Teixeira e Sousa, aliás, faz questão de mencionar e que lhe serviram de inspiração. Em comum, os poemas épicos ou as epopeias, gênero literário existente desde a Antiguidade, costumam narrar, em versos, eventos considerados heroicos ou grandiosos, ações que, como o processo de Independência, deveriam ser imortalizadas. Exatamente por isso nosso vate, ou poeta, se vale da “régua” da épica para cantar o drama nacional.
Mas, como na carpintaria, algumas regras precisam ser respeitadas – do contrário, as bases da obra podem revelar fissuras ou fragilidades. É isso o que sugere Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), poeta e escritor que, sob pseudônimo e em diversos artigos no jornal Correio da Tarde, em 1848, condena asperamente o poema do nosso artesão. Para o crítico, a obra é cansativa, enfadonha e excessivamente longa, além de equivocada na ideia e na execução. No fim, a principal reprimenda diz respeito à opção de Teixeira e Sousa por cantar um acontecimento moderno, como a Independência, utilizando um gênero literário antigo. Segundo o crítico, a épica estaria, no século XIX, em descompasso com o presente. Isso não impediu que, alguns anos depois, o próprio Gonçalves Dias publicasse uma obra com traços épicos, poema que receberia o título de I-Juca-Pirama (1851).
Mas Teixeira e Sousa não estava só. Amigos e admiradores saíram em defesa de sua obra. É nesse momento que um ainda jovem escritor, de nome Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), começa a escrever seus primeiros textos. Em um deles, dedicado ao nosso artesão, é possível ler: “Toma a lira de novo, e um canto vibra/ E depois ouvirás a nossa terra/ Orgulhosa dizer: – Grécia, emudece,/ Dos vates berço, abrilhantado surge/ O Gênio adormecido!”. Os versos de 1855 são publicados na Marmota Fluminense, importante periódico do período, administrado pelo escritor e jornalista Francisco de Paula Brito (1809-1861). Foi na tipografia de Paula Brito, aliás, que Teixeira e Sousa publicou muitos dos seus textos. Assim, é possível sugerir que o estímulo de Machado de Assis expressava tanto um sincero entusiasmo pelo “gênio adormecido” quanto uma propaganda em defesa da segunda parte do monumento…
Afinal, o que conta nosso poeta sobre a Independência do Brasil? Para narrar a “Pátria História”, Teixeira e Sousa reproduz discursos políticos, descreve debates em assembleias e na imprensa do período, reconstrói episódios da luta entre portugueses e brasileiros, reconta mitos e motivos indígenas, acompanha anjos na descrição física e geográfica da América, registra, enfim, o que considera ser o triunfo da Liberdade e do regime imperial. A iniciativa chama atenção não apenas pelo acúmulo de cenas e pela extensão, mas também pela rapidez com a qual foi empreendida: enquanto os sócios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – instituição fundada em 1838 para narrar a história da nação – debatiam sobre a possibilidade da escrita da história contemporânea, nosso artesão decide tomar a pena e narrar, poucos anos depois do evento de 1822, a história da Independência. Optou, assim, não por um livro de história, mas por uma obra poética: a história em cantos.
Passados mais de 150 anos, a obra do nosso artesão costuma atualmente ser mencionada em poucas linhas ou apenas nos rodapés das páginas de história e da literatura. O poema é, contudo, expressivo das possibilidades e dos limites de ascensão social e do reconhecimento do autor por meio das letras tanto ontem, quanto hoje. As críticas e elogios que suscitou permitem compreender um pouco mais da dinâmica política e econômica em voga. Além disso, o monumento à Independência evidencia as alternativas para registrar o tempo e contar a história no século XIX, pois, como sugere o poeta: “Para o futuro só canto o passado!” (Canto XII, IX). Mesmo enaltecendo o regime imperial, Teixeira e Sousa não deixava de criticar o tratamento oferecido aos indígenas nas Américas e se engajou diretamente nos movimentos de extinção do tráfico e abolição da escravatura. Deixou assim um monumento em papel, uma história contada em versos e cantos sobre o Império do Brasil, mas também sobre si mesmo.
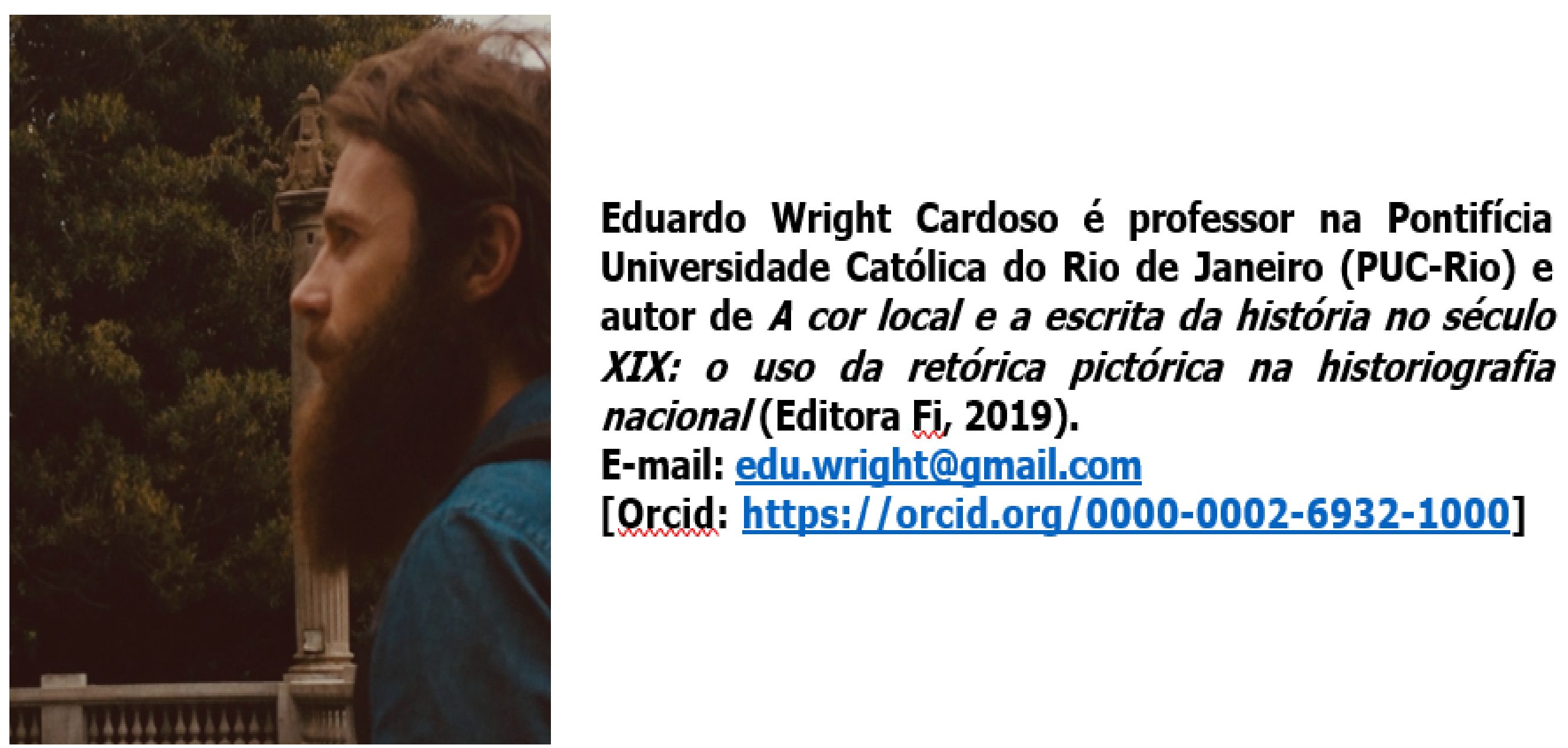
Saiba mais
CASTRO, Sheila Rocha de. Representações da Independência na literatura brasileira, séculos XIX-XXI. 2019. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2019.
MACHADO DE ASSIS. Obra completa: volume 3 – Conto, Poesia, Teatro, Miscelânia, Correspondência. São Paulo: Editora Nova Aguilar, 2015.
TEIXEIRA, Ivan (org.). Épicos: Prosopopeia: O Uraguai: Caramuru: Vila Rica: A confederação dos Tamoios: I-Juca Pirama. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008.
TEIXEIRA E SOUSA, Antônio Gonçalves. A Independência do Brasil: poema épico em XII cantos. Rio de Janeiro: Tipografia de Francisco de Paula Brito, t. I (1847) e II (1855). Disponível em: https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=178472. Acesso em: 15 jun. 2022.

Moeda haitiana com figura do François Mackandal (1968)
NOMES ESQUECIDOS E “DESCONHECIDOS”: AFINAL, AS LÍNGUAS AFRICANAS TÊM ALGO A NOS DIZER SOBRE A INDEPENDÊNCIA BRASILEIRA?
Relembrando algumas histórias esquecidas e identidades africanas e afrodiaspóricas na época da Independência do Brasil
Marc A. Hertzman
Em 1975, Sueli Carneiro tentava batizar sua filha “Luanda” para comemorar a independência recente de Angola, mas foi rechaçada pelo escrivão que “alegava que o nome era ‘desconhecido, esquisito’” (Portal Geledés, 2016). A história nos leva a pensar em outras formas de comemoração e esquecimento em torno de nomes, língua e independências nacionais. Se a experiência da Carneiro revela uma tendência de esquecer ou apagar histórias e identidades africanas no Brasil, que histórias paralelas ou parecidas existem na criação do Brasil? Que nomes e histórias foram apagados por escrivães e outros oficiais no século XIX? Para saber mais destas histórias, podemos tirar inspiração de trabalhos recentes sobre a Revolução Haitiana, que utiliza metodologias de linguística comparada utilizadas por africanistas e nos leva-nos a perguntar: afinal, as línguas africanas têm algo a nos dizer sobre a Independência brasileira? A resposta curta é ‘claro que sim’. Mas ainda temos muitas pesquisas a fazer.
Já é bem documentado que, depois da Revolução Haitiana, Toussaint, Dessalines e outros nomes dos “heróis” da revolução foram adotados por quase toda a parte das américas. Mas mesmo que saibamos sobre isto e outras repercussões da revolução no Brasil, em termos gerais, historiadores tendem a pensar da independência haitiana e brasileira como polos opostos: por um lado a revolução violenta no Haiti e por outro o “Eu fico.” Se o contraste reflete uma certa realidade, as muitas revoltas regionais no Brasil e as mobilizações negras armadas no século XIX nos chamam a atenção de outros processos e tentativas e nos instiga questionar as mitologias da Independência. Como Luiz Geraldo Silva já apontou neste blog, mesmo se muitas vezes esquecidos e marginalizados na historiografia, afrodescendentes jogaram papéis “complexo[s] e profundo[s]” nas revoltas do século XIX. Novas provocações na literatura sobre o Haiti também nos levam a pensar mais sobre o papel dos africanos nessas lutas. Se muitos afrodescendentes intentavam “encarar o passado escravista, compreendê-lo, superá-lo e, a partir daí, construir as bases de uma sociedade verdadeiramente igualitária,” como Silva ressalta, quais foram os objetivos e desejos dos africanos? Obviamente não há uma só resposta, mas podemos seguir vários caminhos na procura de horizontes novos.
Primeiro, há um caminho, já trilhado, mas ainda com amplo espaço por mais trabalho, que busca relações entre africanos e afrodescendentes em várias partes da diáspora. Nosso conhecimento das independências de Haiti e Brasil, por exemplo, mudou graças a obras como o ensaio que João J. Reis e Flávio Gomes publicaram em 2009 sobre o impacto da Revolução Haitiana no Brasil, que enfatiza a importância, não somente de comparar os dois casos, mas também de entender as conexões entre eles. Aqui podemos propor novas perguntas: Se a Revolução Haitiana tinha repercussões importantes no Brasil, será que notícias de insurreições e revoluções no Brasil – ou a formação de Palmares (século XVII), por exemplo – chegaram em praias haitianas antes da revolução de lá? Tenho perguntado isso a vários colegas que estudam o Caribe e ninguém sabe como responder. É um exemplo, entre outros, de perguntas que merecem mais atenção.
O segundo caminho, também já trilhado, é o da demografia. Já temos muitos estudos sobre a presença africana no Brasil durante o século XIX e já é bem conhecido que o tráfico de pessoas escravizadas trazia milhares de africanos ao Brasil: entre 1726 e 1850, por exemplo, chegaram em Brasil mais do que cinco vezes do que chegaram em Haiti. O material bastante rico e denso sobre o volume e demografia das pessoas escravizadas e levadas ao Brasil representa grande base a partir da qual podemos lançar novas perguntas e, aqui, a literatura recente sobre Haiti é especialmente instigante.
Em ensaio escrito em 2017, James Sweet lançou uma chamada de armas, ressaltando, “Já sabemos bastante bem as raízes europeias [da Revolução Haitiana]. Se desejamos entender os campos de conhecimento e modas de [africanos] em São Domingos durante a revolução [1791-1804], precisamos encontrar maneiras de acessar suas ideias”. Para Sweet, a chave é mais atenção a algo aparentemente básico, mas que leva muitas complicações e desafios a historiadores: a língua. Se estudantes da diáspora africana já têm a prática de utilizar dicionários, etimologias e filologias, há outro universo de conhecimento utilizado por historiadores africanistas que não tem chegado com bastante força ou frequência a nossos estudos da diáspora.
Num artigo publicado em 2021, Kathryn de Luna mostra um caminho especialmente promissor. Ela aponta que, apesar de existir longa história de estudos sobre línguas e palavras africanas na diáspora, existem poucos que vão além de “tratar a língua como fonte de identificar as origens de práticas e ontologias”. Para ir além de velhas perguntas sobre origens e chegar a novas questões de ação e invenção, ela utiliza linguística comparada histórica, que facilita a examinação de “palavras individuais para evidência do processo complexo e sempre contestado de construir entendimentos compartidos dentro de e cruzando fronteiras linguísticas.” Ela aproveita metodologias de linguistas africanistas para reconsiderar o significado do nome do curandeiro-médico François Makandal, “o mais famoso envenenador de Saint-Domingue”, cuja vida e morte foram imortalizadas por autores como Alejo Carpentier, entre outros.
Para historiadores, Makandal ou é revolucionário lutando pela liberdade coletiva ou é curandeiro que cuidava de indivíduos escravizados. De Luna separa o nome em três partes: a raiz (-kand-), o prefixo (ma-) e o afixo (-al-). Em cada um há várias possibilidades de significado e oportunidades para criar, adaptar e mudar. Assim, De Luna mostra por que e como Makandal chegou a ser temido e valorizado por gente escravizada e historiadores através dos séculos. O significado do nome podia literalmente conter ambas ideias—Makandal como perigo e como herói—a mesma vez.
Ela traz uma metodologia parecida a outros mistérios históricos sobre Makandal. Por muitos anos, historiadores pensavam que Makandal era muçulmano, devido a histórias de que ele invocava “Alá”, e passaram gerações debatendo de qual parte da África ele era. Através de um estudo nítido de morfologia (o estudo da estrutura e som de palavras) e a mudança em sons e estrutura de várias palavras e sons, De Luna muda o debate, levando-o além de questões de identidade e origem. É mais provável, ela mostra, que Makandal não dizia “Alá” e, sim, “À la…” para direcionar suas curas aos alvos desejados. O objetivo dela não é simplesmente corrigir uma tradução com outra, mas utilizar metodologia de linguística histórica comparada para redirecionar velhas perguntas sobre identidade e origem para novas explorações centradas nas ações, modificações e invenções de africanos nas américas.
Empolgados pelos estudos sobre Haiti, podemos também fazer novas perguntar: Além de liberdade e igualdade, quais foram os objetivos, desejos e categorias de pensar e estar dos africanos no Brasil na era da Independência? Já sabemos muito sobre a revolta dos hauçás, em Salvador, em 1835, por exemplo, mas o que mais podemos dizer sobre a presença e influência dos africanos em outras revoltas e processos da era da independência? Não são poucos os estudos que se debruçam sobre identidades e origens africanas no começo do século XIX, mas são raros os que mergulham nas histórias e componentes individuais de palavras da forma que De Luna faz para Makandal. Em nomes, palavras e sons que, até hoje são descartados como “desconhecidos, esquisitos”, existem outras histórias sobre África, sua diáspora e a Independência brasileira ainda a serem escritas.
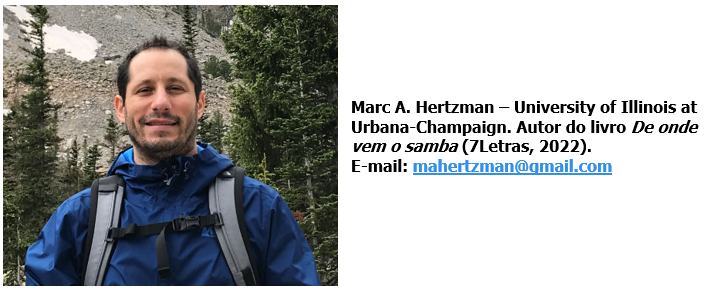
Saiba mais!
CARPENTIER, Alejo. O reino deste mundo. Traduzido por Marcelo Tapia. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
DE LUNA, Kathryn M. Sounding the African Atlantic. William & Mary Quarterly. Williansburg, v. 78, n. 4, p. 581-616, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3MT6f3Y. Acesso em: 14 jun. 2022.
SWEET, James. Research Note: New Perspectives on Kongo in Revolutionary Haiti. The Americas. Cambridge, v. 74, n. 1, p. 83-97, 2017. DOI: https://doi.org/10.1017/tam.2016.82.

Movimentos e Império - Foto Reprodução Impresso Diário de Pernambuco.
“CABRA GENTE BRAZILEIRA”
Na época da Independência, a revolta dos “Cerca Igrejas” – um movimento das camadas populares, com a participação dos cabras – agitou as ruas e marcou a construção do Império do Brasil
Ana Sara Cortez Irffi
No dia 5 de agosto de 1821, na comarca de Crato, no Ceará, um “grito de terror se ouviu” quando cerca de 800 cabras invadiram a paroquia dessa vila. Ali acontecia a reunião da junta eleitoral, que devia designar os eleitores aptos a participar da eleição geral e fazer o juramento à Constituinte. Considerado parte do processo de Independência no Ceará, esse evento ficou marcado pela investida de camponeses, chamados de cabras pela elite senhorial, que reivindicavam participação nas decisões e eleições políticas.
A “rebelião”, conhecida como movimento dos “Cerca Igrejas”, ocorreu na capitania do Ceará e se concentrou principalmente nas vilas do Crato, Jardim e Icó. Sua denominação remetia à prática dos “rebeldes” de cercarem as igrejas e invadi-las para impedir a votação, ameaçar eleitores, destruir urnas e demais materiais de votação. Anos mais tarde, em 1830, a participação política dos camponeses nesses eventos foi destacada pela elite local como a caracterização de um “Império dos cabras”, que se opunha à Independência e ao Império do Brasil.
Uma das leituras sobre a revolta é que ela foi deflagrada pelo capitão-mor do Crato, José Pereira Filgueiras, descendente de português, militar e proprietário de terras, que se manifestava publicamente contra o constitucionalismo e teria desencadeado uma reação contra as propostas liberais para a Independência, evidenciando disputas e posicionamentos políticos conflitantes na Capitania. Mas o movimento ganhou destaque mesmo pela participação popular dos homens de sítio.
É preciso entender que, como resultado das reações ocorridas com a Revolução do Porto, em 1820, e o retorno de Dom João VI para Portugal, no Ceará, aconteceram manifestações com tumultos e protestos no Crato e em Jardim, quando se realizava a escolha dos deputados provinciais para as Cortes de Lisboa. No dia a dia dessas vilas, pequenos ajuntamentos de cabras armados percorreram as ruas das vilas de toda a comarca, gritando vivas a El Rei, a nosso senhor Jesus Cristo, à religião, à Nossa Senhora e morte à “nova lei”. Como consequência, o medo se espalhou entre aqueles que anunciavam o novo governo.
Rapidamente, toda a comarca do Crato estava “infestada da cabroeira” armada, cerca de 16 mil homens sob o comando de Filgueiras e do Major Ferreira de Sousa. Por várias vezes, as eleições da comarca, que deveriam escolher os representantes da província nas Cortes de Lisboa, foram remarcadas, pois as igrejas, local das votações, foram cercadas pelos cabras armados.
A notícia de que mais de 800 Cabras armados assaltaram a vila, dizendo que vinham matar o Coronel Comandante Geral, por ter obrigado o seu Capitão-mor e o Coronel de Milícia a assinarem a “lei do Diabo”, era impressionante às elites locais, sobretudo a que se opunha ao governo português.
Negros, indígenas e mestiços da região, armados de espingardas, foices e facões, que passaram a cercar e invadir as igrejas para impedir as eleições de 1821, passaram a ser chamados de cabras. Desceram dos sítios e pés de serra e foram à igreja reivindicar a manutenção de tradições, seus costumes em comum.
A participação das populações pobres da Comarca de Crato nessas manifestações precisa ser compreendida com cuidado. Os cabras não eram manipulados por Pereira Filgueiras, eles foram instigados por seu discurso: que a ascensão de um Estado liberal anularia a proteção paternalista do monarca ao pobre. Um discurso que tinha o intuito de angariar o apoio popular.
Os cabras, na verdade, lutavam porque percebiam uma evidente ameaça à sua liberdade, com possibilidade de escravização pelos senhores de terras, pela tomada de suas terras e degradação de suas condições de vida. Em sua compreensão, o braço do Estado, personificado pelas elites locais, os alcançaria – sem o rei, o poder real, que os pudesse regular. Por isso, os cabras lutaram pela manutenção das suas tradições e costumes, como resistência à independência que vinha do litoral. Também por sua maneira de lidar com o território, sem fronteiras para suas atividades e acordos.
O medo das elites estava na fragilidade do Império Brasileiro frente à fragmentação da América Espanhola em várias repúblicas, mas também na fragilização marcada pela falta de acordo da elite senhorial, dividida em partidos e filosofias políticas, frente à unidade ou ao acordo das populações de cor em manifestar e reivindicar seus interesses.
Em carta de 1830 ao Diário de Pernambuco, um anônimo traduziu o medo que colocou liberais e conservadores num mesmo lado político: contra o Império dos cabras. Segundo ele, todos “ralhavam” contra a Independência, chamando o Brasil “Imperio dos cabras, e macacos”, e que eram contra a Independência, como foi parafraseado no estribilho do hino:
“Cabra gente Brazileira
Descendente de Guine
Trocárão as sinco Chagas
Pelas folhas de café”:
Tal receio explica a recorrente referência às populações camponesas como perigosas e rudes pelos habitantes que se consideravam pertencentes à elite senhorial daquela região. Isso se dava em uma sociedade desenhada a partir de cima, divisando os cidadãos honrados e “probos” (os homens do governo) das massas populares, cuja participação política era negada no processo de independência e na formação da nação brasileira. A participação dos cabras na Independência no Ceará foi chamada de Revolta dos “Cerca Igrejas” numa negação à sua cultura política, percebidos como massa de manobra, com suas ações criminalizadas, tanto por liberais como pelos conservadores.
A participação dos cabras nas lutas de liberais e conservadores deve ser entendida como era, de fato: o aproveitamento da luta que interessava a esses camponeses. Nem massa de manobra, nem fanáticos, o chamado movimento dos “Cerca Igrejas” era a participação dos cabras no processo de independência no Ceará. Era o estabelecimento de relações dos cabras com o território em que viviam e os poderes nele constituídos. Era a defesa deles mesmos, de suas tradições e memória.
Nesses 200 anos de Independência do Brasil, devemos um Viva! à Cabra Gente Brasileira!!!

Saiba Mais
ARAÚJO, Reginaldo A. A parte no partido: relações de poder e política na formação do Estado Nacional Brasileiro, na província do Ceará (1821-1841). 2018. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
CORTEZ, Ana Sara R P. O Cabra do Cariri Cearense: a invenção de um conceito oitocentista. 2015. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
PORFÍRIO, F. Weber P. (Re)pensando a nação: a Confederação do Equador através dos jornais “O spectador brasileiro” (RJ) e o “Diário do governo do Ceará” em 1824. 2019. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.
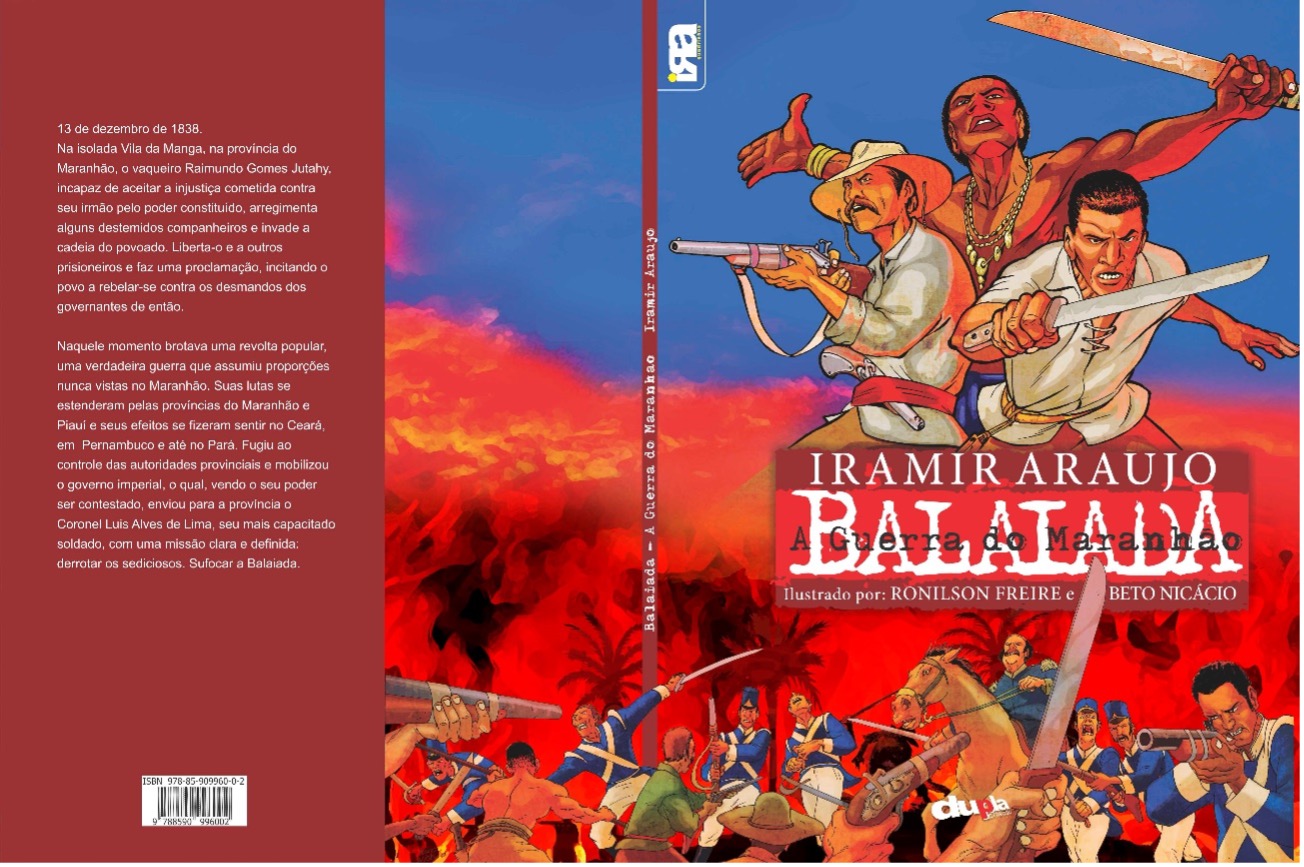
Capa da primeira edição da História em Quadrinhos “Balaiada – a guerra do Maranhão”, de Iramir Araújo, Ronilson Freire e Beto Nicácio. Capa ilustrada por Beto Nicácio (2009)
O GRITO DOS EXCLUÍDOS
Na província do Maranhão os populares independentistas foram também os balaios
Elizabeth Sousa Abrantes
O grito dos excluídos ecoou nas lutas pela Independência no norte do Brasil e não deixou de ser ouvido ao longo das tumultuadas décadas da formação do Estado Nacional. Seus anseios e utopias continuaram sendo barrados e essa exclusão na nova ordem política os motivou a continuarem a interminável luta por cidadania. Na província do Maranhão, os caboclos, vaqueiros, trabalhadores escravizados e indígenas, protagonistas nas lutas independentistas do “Exército libertador”, levantaram-se mais uma vez, agora como balaios, contra as injustiças sociais e o despotismo dos poderosos e seu projeto elitista e conservador.
Por esse motivo, falar da participação dos populares no processo de Independência do Brasil é romper com os silenciamentos da história oficial, que tentou apagar esses registros e essa memória das lutas do povo pobre, chamado de “arraia miúda”, impondo uma memória forjada pelos vencedores. Nesse imaginário construído sobre a independência política do país, a ruptura da metrópole foi apresentada como um “desquite amigável”, uma separação amistosa e sem conflitos, porque capitaneada pelo príncipe regente D. Pedro I, e não “por um aventureiro qualquer”.
As lutas que foram travadas nas províncias nortistas acusadas de separatistas mostram que a independência custou sangue e sacrifício de vidas, a maioria delas de gente do povo. Como exemplo, as batalhas travadas pelas tropas independentes da chamada Coluna Libertadora que, partindo do Ceará, atravessaram o Piauí lutando e recebendo a adesão dos independentistas dessa província até chegar ao Maranhão.
Atravessando o rio Parnaíba para a banda do Maranhão, cresciam as ações e os combates dos independentistas, com adesões nas vilas e povoações, a exemplo das que se localizavam às margens do rio Itapecuru, o Nilo maranhense, no dizer de alguns escritores locais. A participação de populares reunidos em grupos de 50 e 100 homens, os quais se juntariam ao exército libertador, causava preocupação da junta governativa sediada na capital São Luís, que os chamavam de salteadores, para serem tratados como criminosos e não como rebeldes em luta pela causa da independência. O historiador maranhense Vieira da Silva, em sua obra História da Independência da Província do Maranhão, de 1862, chama esses populares de homens rudes, mas de boa fé e boa índole, acostumados a considerar os portugueses como senhores despóticos. Daí o grito de “Mata marinheiro”, uma referência aos lusos e ao sentimento antilusitano que acompanhará as lutas populares, desde a Independência até a guerra civil da Balaiada, maior revolta rural ocorrida em territórios maranhense e piauiense.
A área geográfica onde ocorreram os combates pela Independência no Maranhão foi a mesma que serviu de palco para as lutas dos balaios, a saber, a região sul, o vale do Itapecuru e a banda oriental do Maranhão. Isso significa que a revolta não ocorreu em toda a província, mas abrangeu uma área considerável dela, especialmente na região de produção agrícola, com a monocultura do algodão, e em áreas de grande concentração da população camponesa, como o Baixo Parnaíba, na fronteira com o Piauí.
Assim como na guerra pela Independência, a revolta da Balaiada mobilizou milhares de livres pobres, incluindo indígenas, que colocaram seus arcos e tacapes nessa luta contra a opressão. Vale destacar o velho Matroá, líder indígena que lutou na Independência e, mesmo cansado pelo peso da idade, não se esquivou de mais essa batalha. O contingente de balaios pode ter chegado a 12 mil homens, isso segundo cálculos do próprio presidente da província do Maranhão, o coronel Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. E ainda mais assustador para as autoridades foi o que eles chamaram de “nuvem negra”, a entrada nessa luta de cerca de três mil escravizados, fossem fugitivos das fazendas da região do conflito, fossem de quilombolas, sob o comando do grande líder negro Cosme Bento das Chagas, o Tutor e Imperador das Liberdades Bem-te-vis.
A Balaiada ou guerra dos Bem-te-vis mobilizou dezenas de lideranças oriundas das camadas populares, vaqueiros e pequenos lavradores, como Raimundo Gomes e Manuel Francisco Ferreira dos Anjos, denominado de Balaio. O vaqueiro Raimundo Gomes deu início ao movimento com a invasão da cadeia da vila da Manga, em 13 de dezembro de 1838, para libertar seus companheiros, e em seguida apresentou um manifesto político que marcaria o início da revolta. O Balaio teve seu apelido utilizado pelos vencedores para denominar a revolta e esvaziar seu sentido político, tendo entrado na luta para livrar seus filhos do recrutamento forçado ou, segundo a versão oficial, para lavar a honra da sua família depois que suas filhas foram defloradas. O certo é que não deixou de lutar contra uma injustiça.
Os balaios conheciam bem o território em que travaram suas lutas, usavam táticas de guerrilhas, as quais provocavam o deslocamento contínuo dos seus acampamentos. Nessa movimentação, circulavam homens, mulheres e até crianças, os quais formavam um “exército invisível”. Os rebeldes tomaram a cidade de Caxias, no sertão maranhense, e assim como os independentistas, chegaram a se aproximar do Golfão maranhense, sem nunca alcançarem a ilha de São Luís. Na guerra de Independência, a Junta Governativa se rendeu diante de um emissário da Coroa, o Lorde Cochrane, a fim de evitar a derrota para o exército libertador. A escritora Carlota Carvalho, em sua obra O Sertão (1924), considera que esses “vencidos seriam, em breve tempo, no Pará, os cabanos, trucidados por Andréia; no Maranhão, os bem-te-vis garroteados por Luís Alves de Lima”. E para o historiador Matthias Assunção a “derrota dos Bem-te-vis foi também uma derrota do Maranhão, ou mais precisamente de um movimento popular democratizante frente às elites mais conservadoras da região”. A luta continua!

Saiba Mais
ASSUNÇÃO, Matthias. A Guerra dos Bem-te-vis: a Balaiada na memória oral. São Luís: Sioge, 1988.
CARVALHO, Carlota. O Sertão. 3.ed. Imperatriz: Ética, 2006.
GALVES, Marcelo Cheche. Ao Público Sincero e Imparcial: imprensa e independência na província do Maranhão (1821-1826). São Luís: EDUEMA/Café & Lápis, 2015.

Fonte: Blog do Pensar a Educação
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA (2022-1822): POR QUE A HISTORIOGRAFIA DEVE SE PREOCUPAR COM A IDEIA BOLSONARISTA DE PÁTRIA
O Bicentenário da Independência na agenda do governo federal
Elio Flores
No momento em que escrevo, circula um suposto ditado turco nas redes sociais: “quando um boi chega ao palácio ele não vira rei, o palácio é que se torna um curral”. Não se está fazendo analogia com D. Pedro I (1798-1834) que se tornou imperador do Brasil em 1822. O objetivo é pensar no Brasil do Bicentenário e um governo que se vangloria em ser conservador na política e ultraliberal na economia. Os especialistas dizem que se trata de um governo negacionista, isto é, quando a expressão da verdade é substituída pela mentira e pela manipulação’
A lógica dos negacionistas da ciência e revisionistas da própria historiografia impõe aos demais sujeitos da história do tempo presente uma efeméride fundamentalista, a partir do lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.
O que isso significa? Que as religiosidades de matrizes africanas e ameríndias estão sendo convidadas a sair da história. Que seus terreiros e espaços sagrados são vistos como contrários à ideia bolsonarista de pátria. Vejamos o que se narra e o que se defende nas fontes governistas.
A plataforma oficial do governo tem por título “Bicentenário da independência do Brasil – 1822-2022”. O primeiro dado é a contagem dos dias, horas, minutos e segundos para a efeméride. Depois, mais abaixo, o usuário se depara com quatro links para navegar.
No primeiro, com o mesmo título da barra inicial, pode-se ler o discurso governista sobre a independência e a apresentação dos símbolos do Bicentenário. Coisas assim foram escritas: “A Independência do Brasil foi conquistada com um brado. Nossa liberdade, anunciada com uma exclamação”. Donde se segue que: “Um jovem príncipe, do alto de seu cavalo, ergueu sua espada”. Esse método, primeiro as armas, depois as pessoas, é traduzido como a garantia da liberdade. A repetição é a alma do negócio, chamado história bolsonarista da pátria.
Na apresentação dos símbolos, a lógica do mito busca o ídolo das origens (o nascimento do Brasil), como se a linha de tempo fosse uma flecha de Pedro a Jair: “Utilizamos como símbolo oficial do Bicentenário o punho de Dom Pedro I erguendo sua espada durante o Grito da Independência”. A história é gesto? Nada mais?
A apresentação do segundo símbolo atesta o racismo religioso, tão impregnado nos apoiadores do governo: “Nas artes das campanhas do Bicentenário, usamos uma versão estilizada da Cruz da Ordem de Cristo, por ser um símbolo presente de forma constante na identidade brasileira, desde o início de sua história até hoje, e por representar os valores religiosos em que os brasileiros se fundamentam”. A bandeira imperial que destaca a mesma cruz no centro e no topo da coroa também é evocada. Os símbolos das religiosidades indígenas e negras simplesmente desaparecem do Bicentenário. É como disse a pensadora negra Lélia Gonzalez (1935-1994), quando criticava o centenário da abolição, em 1988: “Evidentemente que a gente está vendo que não estamos presentes”.
No segundo link, definido como “Memorial da soberania”, foi estabelecida a linha de tempo da Independência. São fixadas onze datas na temporalidade 1500-1822, entre a chegada dos portugueses e a Independência. Seis no século XVI, duas no século XVIII, três no século XIX. As datas escolhidas são todas do heroísmo colonizador. A população negra, escravizada ou livre, está ausente (invisibilizada) e os povos indígenas aparecem como “bons selvagens”.
O negacionismo étnico foi escrito na lógica da história pacífica, quem chegou era bonzinho, quem estava aqui aceitou tudo: “O encontro entre índios e portugueses foi marcado pelo tom pacífico, amigável e de mútuo interesse por parte dos dois povos”. Sabe-se que a pauta governista nesse ano do bicentenário é legitimar a grilagem das terras indígenas e acabar com qualquer política pública em relação aos povos originários. Os direitos humanos pedem socorro, o Cerrado arde em chamas, a Amazônia morre todo o dia, mas um “historiador” ultraconservador, cuja fonte é a bíblia, escreveu que o Brasil “nasce com o encontro de portugueses e índios aos pés da Cruz”.
Outro aspecto que chama a atenção na linha de tempo, estruturalmente racista, é a ausência do século XVII na história bolsonarista da pátria. Na história do Brasil é o século do Quilombo dos Palmares. A primeira expedição punitiva sobre Palmares data de 1602. Numa linha de tempo de outra brasilidade, que contemple os negro-africanos nessa história, teríamos várias datas e eventos para o século XVII palmarino (1602-1695). Os africanos começam a chegar, escravizados, na primeira metade do século XVI. Assim, a América Portuguesa – título do livro do historiador Rocha Pita, publicado em 1730 − não era exatamente portuguesa, mas indígena e negro-africana.
Olhemos agora para o ano de 1822. O dia do Fico. Afirma-se que deputados portugueses obrigaram o retorno de Dom João VI a Portugal, mas não se menciona a Revolução Liberal do Porto (1820). Exige-se também o retorno de Pedro, o príncipe-regente. Brasileiros suplicam a sua permanência. Assim, diz o texto, “orientado pelo pai, Dom Pedro I decide ficar contrariando a classe política portuguesa”. Ora, Pedro ainda não era I nem imperador. Mas esse anacronismo não é tudo.
Para o Sete de Setembro a ideia presentista (a história agora) chega a ser vibrante. Depois de citar o discurso de Pedro, pela fonte do padre Belchior, a data é assim encerrada: “Com essas firmes palavras cheias de amor à Pátria, o Brasil bravamente conquistou as suas SOBERANIA, LIBERDADE e INDEPENDÊNCIA”. Na verdade, essas três palavras gritadas resumem a ideologia do bolsonarismo (e dos bolsonaristas) e são quase todo dia repetidas nos discursos e postadas nas redes sociais.
A historiografia do tempo presente assiste perplexa a efeméride oficial do Bicentenário terrivelmente negacionista.
Independência e Morte?!

SAIBA MAIS!
BRASIL. Bicentenário da independência do Brasil – 1822-2022. Gov.br, 18 fev. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3NNA1IM. Acesso em: 13 fev. 2022.
FRANCHINI NETO, Hélio. Independência e Morte: política e guerra na emancipação do Brasil (1821-1823). Rio de Janeiro: Topbooks, 2019.
GOMES, Flávio. Palmares: escravidão e liberdade no Atlântico Sul. São Paulo: Contexto, 2005.
MANSO, Bruno Paes. A República das Milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro. São Paulo: Editora Todavia, 2020.

Índios civilizados em viagem, Maximilian de Wied - 1823
ÍNDIOS CIDADÃOS NO BRASIL INDEPENDENTE
Nas câmaras das vilas de índios da Bahia, lideranças indígenas lutaram pela “Santa Causa do Brasil” e por direitos
Francisco Cancela
Para os homens das elites que ocupavam os novos espaços constitucionais, abertos após a revolução liberal de 1820, a discussão sobre a cidadania dos índios era uma questão em aberto. Nas Cortes de Lisboa, na Assembleia Constituinte do Brasil e mesmo na Câmara dos Deputados não faltaram calorosos debates que buscavam definir se os índios seriam ou não considerados cidadãos. No entanto, essa não parecia ser uma indefinição para dezenas de lideranças indígenas que ocupavam cargos nas câmaras das vilas de índios. Na condição de agentes políticos locais, participaram dos principais eventos do processo da Independência, não apenas emitindo opiniões e posições, mas também aproveitando o momento para defender seus próprios interesses.
A presença de índios nas câmaras foi uma decorrência da política indigenista da segunda metade do século XVIII. Sob o comando do futuro marquês de Pombal (1699-1782), iniciou-se a chamada “reforma jesuítica”, materializada nas leis de 6 e 7 de junho 1755, que resultou na decretação da liberdade dos índios, na transformação dos aldeamentos em vilas e na proposição do autogoverno indígena. Em seguida, com o Diretório dos índios, implantou-se um rígido sistema de tutela por meio de um agente estatal e por um radical processo de imposição cultural, mantendo-se, todavia, a preferência dos índios no governo de suas povoações. Ainda que permeado de contradições, esse período se transformou num momento privilegiado de ampliação das experiências políticas e da consciência histórica das lideranças indígenas, que, ocupando os cargos da governança local, souberam usar o papel das câmaras para negociar seus interesses.
No tempo da Independência, algumas dezenas de vilas espalhadas pelo Brasil continuavam a ser classificadas como de índios. Com diferentes histórias, a província da Bahia possuía 15 dessas vilas que possuíam grande presença de população que se autoidentificava como indígena e também era reconhecida como tal pelo Estado e pelos seus agentes. Algumas dessas vilas contavam com número bastante reduzido de não indígenas em seu termo, assegurando maior domínio das terras e dos cargos da governança por parte dos índios. Outras, porém, contavam com a presença de não indígenas, com quem os índios tinham que dividir os ofícios da câmara e conviver com sua ambiciosa sede por terras e trabalho. De um modo geral, os índios dessas vilas eram considerados “mansos” ou “civilizados” – o que significava que dominavam não apenas a língua portuguesa, mas também os códigos e processos típicos da sociedade envolvente.
A recepção do constitucionalismo nas vilas de índios parece ter gerado um clima de desconfiança das lideranças indígenas. No primeiro semestre de 1822, ao receber dos deputados das Cortes de Lisboa uma consulta sobre a “questão da delegação do poder executivo”, os oficiais da Câmara de Alcobaça simplesmente responderam que se conformavam com qualquer possibilidade, gerando, inclusive, a fúria preconceituosa da Junta Governativa, que explicou a escorregadia posição argumentando que “sendo habitada de índios pouco inteligentes, não soubessem exprimir seu parecer com a devida clareza e precisão”. Ao que tudo indica, o receio de uma destituição da autoridade régia colocava os índios numa situação de preocupação, pois historicamente incorporaram a figura do monarca como grande intercessor de seus interesses.
Com a consolidação de D. Pedro como uma saída para a crise, as câmaras das vilas de índios atuaram ativamente na defesa da “Causa do Brasil”, inclusive participando dos campos de batalhas, onde atualizaram sua longa tradição de participação nas guerras coloniais. A câmara da vila de Santarém, por exemplo, enviou uma tropa de 70 índios para proteger a sede provisória do governo interino em Cachoeira, concedendo 30 mil réis para o auxílio do transporte e alimentação dos soldados. Nessas experiências, não faltou aos índios interpretarem a guerra a partir de sua condição de portadores de direitos diferenciados, exigindo, por exemplo, dispensa do serviço militar quando se atingia os três meses de trabalho ou a aquisição de soldo extra para auxiliar no sustento de suas famílias.
As câmaras das vilas de índios buscaram também participar, ao seu modo, dos novos pactos que se construíam entre os poderes local e o central. No ato de aclamação de D. Pedro em Vila Verde, por exemplo, os índios não somente demonstraram dominar o uso do vocabulário político da época, mas também escreveram uma história na qual se transformaram em importantes protagonistas da ação da Independência, pois se colocaram, na comarca de Porto Seguro, como “os primeiros que abrimos as espessas nuvens do servilismo em que vivíamos subjugados”. Com essa narrativa, incorporaram o discurso de ruptura presente naquele contexto revolucionário, associando o antigo regime e a condição colonial à servidão, num jogo de contraste que apontava como horizonte de mudança à ideia de liberdade.
Da construção da Independência, os índios camarários passaram à luta por direitos. Na Vila Verde, denunciaram as formas de trabalho compulsório exigindo o direito à liberdade, utilizando nas petições as palavras patriotismo e despotismo. Na vila de Trancoso, reivindicaram a reconstituição de seu patrimônio territorial, recusando-se a pagar foro nas terras que lhes foram doadas pela coroa no século XVII, com argumento de direitos adquiridos. Em 1830, ao analisar alguns desses embates dos índios camarários, o deputado José Clemente Pereira, reconhecendo a legislação indigenista e a própria política indígena, vociferou: “os índios já eram cidadãos antes da constituição”. Passados 200 anos, os povos indígenas ainda hoje lutam por uma cidadania que lhes assegure os direitos constitucionais à terra e à liberdade, vergonhosamente negados pelo Estado brasileiro.

Saiba Mais
COSTA, João Paulo. Na Lei e na Guerra: Políticas Indígenas e Indigenistas no Ceará (1789-1845). Campinas: Ed. Unicamp, 2016.
MOREIRA, Vânia. De Índio a Guarda Nacional: Cidadania e Direitos Indígenas no Império (Vila de Itaguaí, 1822-1836). Topoi. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 127 142, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/2237-101X011021007
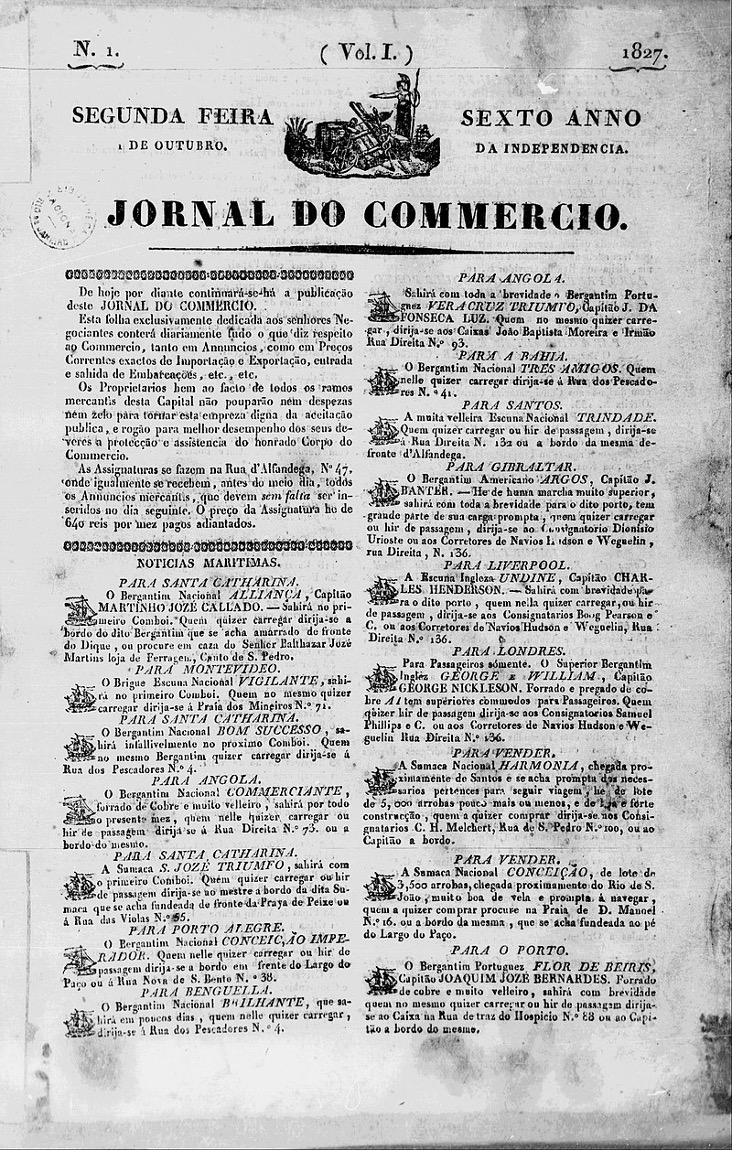
Jornal de Commercio em 1827, Hermeroteca DigitalBN. Primeira capa mostra um novo negócio nascendo
PIERRE PLANCHER
UM EDITOR INDEPENDENTE NOS TRÓPICOS
De como um francês bonapartista movimentou os negócios editorais brasileiros logo após a Independência
Joana Monteleone
Em 1824, aportou na capital do país que nascera há poucos anos um livreiro, editor e jornalista francês. Pierre Plancher chegava com malas e bagagens pesadas, por assim dizer. Trazia no navio em que viajava todo o equipamento necessário para montar uma tipografia – não era pouca coisa e não era nada leve. Vinham com ele alguns trabalhadores que sabiam manejar as prensas e imprimir os livros. Desembarcar com uma mala era uma coisa, mas querer aportar com uma tipografia e seus trabalhadores era algo bem diferente.
O Brasil era uma país novo: tornara-se independente apenas dois anos antes. Os modos de governo ainda estavam se constituindo, com avanços e recuos entre a população, a elite, os políticos e o novo imperador, D. Pedro I. Plancher saíra da França de Napoleão Bonaparte, que foi derrotado em 1815. Desde então imperava o retorno ao governo absolutista dos Bourbon, o que, na prática, significava restrição de direitos civis conquistados com a Revolução de 1789, suspensão da liberdade de imprensa e perseguição aos apoiadores do regime bonapartista.
Diante das perseguições, que eram mais fortes para um editor independente, Plancher decide sair da França rumo ao “novo” continente – ficou na dúvida se iria para a Suécia, os Estados Unidos, países com liberdade de imprensa, ou para o Brasil. Mas acabou escolhendo as terras brasileiras, que era uma jovem monarquia que prometia poder relativo ao governante e cuja língua estava próxima à que falava.
Plancher era um editor criado nas águas turbulentas dos anos finais do Antigo Regime, da Revolução de 1789 e dos anos de Napoleão Bonaparte. Publicou as obras completas de Voltaire e as edições de Dante, John Milton e Schelling. Foi o primeiro editor francês de Walter Scott. Gostava principalmente do debate político e chegou a nomear sua editora de “librairie politique”, “editora política” em português. A si mesmo, chamava de “editor das Câmaras do Deputados”. Mas quando começou a imprimir uma obra de Saint-Edme sobre Napoleão, em 1820, as autoridades suspenderam suas atividades e sua permanência na França ficou comprometida.
O Brasil havia assegurado a liberdade de imprensa há pouco. Parecia, aos olhos do mundo, um lugar promissor para se instalar uma tipografia. Além disso, os novos tempos da independência fomentavam os debates políticos de maneira acalorada, e Plancher percebeu que podia participar ativamente da vida política na nova monarquia, como sempre gostou de fazer. Assim, nos primeiros meses de 1824, ele aportou no Brasil disposto a investir e fazer novos negócios.
Ao chegar, Plancher expressou seus “sinceros votos d´hum verdadeiro amigo, testemunha das grandes revoluções na Europa e instruído pela experiência de seus estragos e seus flagelos”. Mas as coisas não eram tão fáceis quanto podiam parecer da Europa e a entrada no país foi tumultuada. O editor francês precisou pedir a intervenção direta do jovem imperador D. Pedro I. Depois de resolvido o imbróglio, disse: “A minha gratidão para os benefícios da sua majestade o Imperador e de muitos dos seus ministros não tem limites: vítima de uma intriga para que não tendo dado motivo algum, achei-me desterrado do Brasil mesmo antes de minha chegada; porém Sua Majestade mandando informar o meu negócio, justiça me foi feita”. A justiça do imperador, na verdade, era uma isenção especial de impostos de importação para todo o equipamento.
Assim, a tipografia e editora foi aberta provisoriamente em março de 1824 na rua dos Ourives, n. 60. No começo do século XIX, livrarias, tipografias e editoras se misturavam num mesmo estabelecimento e com Plancher não foi diferente. Com as máquinas estavam também os livros já impressos na França e que podiam ser vendidos para uma elite ilustrada que lia em francês no Brasil. Então, vieram com ele obras de D’Alembet, Diderot, Condillac, Montesquieu, Mirabeau entre outros escritores menos conhecidos. Poucos meses depois, Plancher já sabia que a melhor rua do Rio de Janeiro para fazer negócios era a rua do Ouvidor e foi lá, no número 80 e depois no número 95, que abriu lojas maiores.
O tipógrafo francês foi, sobretudo, um homem de negócios – rapidamente dominou o português e passou a imprimir obras, trabalhando principalmente para o governo imperial, com a impressão de catálogos administrativos ou econômicos. Foi a tipografia de Plancher que imprimiu a Constituição do Império do Brasil, o que nos mostra o grau de confiança do imperador para com a editora recém-instalada.
Com uma enorme capacidade de inovação e vontade de prosperar, Plancher vai lançar um guia de ruas do Rio de Janeiro e outra espécie de guia para estrangeiros na cidade, além de um manual de conversação francês-português. Lançou logo uma espécie de almanaque, o Folhinhas de algibeirra e de porta, e, em 1827, o Almanack Plancher, mais completo, inspirado pelos almanaques iluministas e revolucionários que lia em Paris. O almanaque era completo, com nome da nobreza, endereço de comerciantes e profissionais liberais da cidade, além de textos pequenos e informativos.
Naturalmente não demorou muito para que Plancher começasse a publicar periódicos e panfletos políticos – na época, o país vivia um intenso debate sobre seu futuro e sobre a construção da jovem nação. Esses debates se traduziam tanto em acaloradas discussões legislativas, quanto também nesses panfletos e periódicos políticos. Saíram, assim, Spectador Brasileiro, que dura até 1827, a Revista Brasileira “das ciências, artes e indústria”, e o Propagador das Ciências Médicas.
Dessa maneira, com seu espírito empreendedor e com vontade de fazer negócios, Plancher se tornou um nome importante e conhecido na corte brasileira, que começava a se estabelecer. Suas relações com imperador, contudo, foram conturbadas. Três meses depois de aportar no Rio, recebeu o título de “Impressor real”, apesar da existência da Typographia Nacional. Seu equipamento e suas técnicas de impressão eram as mais modernas possíveis para a época.
Plancher era um apaixonado por política e não tardou a se envolver nos discursos, ideias e práticas do novo Brasil que surgia. Assim que desembarcou, lançou o Spectador Brasileiro, que saiu em 28 de junho de 1824 – a gratidão a D. Pedro I evidenciava as tentativas de estabelecer seu negócio e prosperar no Brasil sob as graças do imperador. O jornal acabou em maio de 1824, tendo um artigo polêmico em defesa do ministro da Guerra, o conde de Lajes, João Vieira Carvalho. O imperador se envolvia diretamente nas discussões políticas, escrevendo sob pseudônimo. Depois disso, o jornal foi logo substituído pelo L´Indépendent, feuille de commerce politique et littéraire teve dez números, publicados entre 21 de abril e 24 de junho de 1827, saindo semanalmente, aos sábados. O título fazia uma referência explícita aos acontecimentos de 1822, além de reforçar a ideia de liberdade de imprensa. No jornal, a guerra da Cisplatina, críticas teatrais e numerosos artigos. Mais uma polêmica e as folhas foram substituídas pelo L´Écho de l´Amérique du sud. Mas seu jornal mais famoso e comercialmente bem-sucedido foi o Jornal do Commercio, que ele comprou, sob o nome de Diário Mercantil, de Francisco Manuel Ferreira, em 1827. Anúncios, loterias, polêmicas políticas e problemas para homens que faziam negócios no novo império faziam da própria publicação de Plancher um desses novos negócios prósperos.
O Jornal do Commercio nasceu sob o signo na nova nação. A publicação fazia negócios com anúncios de escravos, preços de mercadorias que saíam e entravam nos portos e anúncios das próprias embarcações que chegavam e partiam. Colocava em suas páginas os pilares do que viria a ser o império brasileiro: um país escravocrata, com a economia baseada na monocultura agrícola e inserido nas comodidades do mundo moderno e tecnológico do século XIX (mas apenas para alguns). Rapidamente, o jornal fez sucesso como negócio, até que Plancher o vendeu para voltar para a França.
O editor francês viveu intensamente os anos que se seguiram à Independência – foi um ator político fundamental na formulação e consolidação do projeto de nação de D. Pedro I. E foi justamente essa proximidade que fez com que deixasse seus negócios no Brasil e partisse de volta para a Europa, em 1834. Sem D. Pedro no Brasil, que voltara a Portugal para lutar contra Maria Isabel, Plancher se viu isolado e sem apoio do Estado. Mas, nesses primeiros anos do Brasil, o editor fez escola e tornou-se lembrado por muito anos ao longo do império.

Para saber mais
DAECTO, Marisa Midori. O império dos livros. São Paulo: Edusp, 2011.
MOLLIER, Jean-Yves. O dinheiro e as letras. São Paulo: Edusp, 2010.
SENNA, Ernesto. O velho comércio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: G. Ermakoff, 2006.

Mulher de turbante - Biblioteca Nacional
INDEPENDENTEMENTE, MULHERES NEGRAS: CORPOS E PENSAMENTOS TRANSGRESSORES
Desde 1822, mulheres negras suplantam a ordem socialmente imposta, ao romperem barreiras para (re)existir. Enquanto corpos e mentes, elas desestabilizam os territórios de exclusão e de estigmas raciais, invadindo casas, corações e pensamentos conservadores, elitistas e racistas
Iamara da Silva Viana
Desde a proclamação da Independência política do Brasil, em 22 de setembro de 1822, negros foram – e são até hoje – excluídos do processo de construção da identidade nacional. Contudo, ao utilizarmos uma lente para aproximar nossos olhares, perceberemos que a mulher, de modo geral, e a mulher negra, mais especificamente, ainda não ocupa determinados espaços. E não só, a mulher negra também fora excluída de alguns ofícios e da política, negando-lhe a possibilidade de ocupar os chamados lugares de poder. Lélia Gonzalez (1935-1994) já apontava tal exclusão, ao pensar a população negra ainda na década de 1980. A mulher negra, entretanto, com seu corpo reduzido tão somente à sexualidade, teve e tem produzido transgressões, ao ocupar espaços e desenvolver pensamentos não subalternizados. Precisamos teorizar sobre o sentido amplificado de tais transgressões, as corpóreas, as imagéticas, as morais e as políticas. A questão não é nova, sabemos, mas, neste momento de efeméride, nos perguntamos: quais os lugares sociais ocupados pela mulher negra, após 200 anos da Independência do Brasil?
Para além de coisas e palavras, a mulher negra pode ser pensada por meio de suas experiências e seus horizontes envolventes. Se, no passado, na sociedade escravista, essa mulher fora propriedade de outrem, escravizada, logo, não possuidora de direitos, qual a realidade que se apresenta para ela hoje? Afinal, na senzala ou na casa grande, seu trabalho foi fundamental para a construção da sociedade brasileira. O corpo negro feminino foi exposto a diferentes violências – físicas, morais e psicológicas – muitas das quais as diferentes fontes e pesquisas não computam, nem demonstram. Nesse sentido, o historiador precisa localizar, em termos empíricos e teóricos, tais tópicas da mulher negra. Entretanto, as marcas do passado escravista podem ser percebidas em pesquisas do IBGE, em que mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio, as que mais abandonam a escola básica, as que têm os menores salários, mesmo quando rompem barreiras sociais construídas historicamente e adentram em um curso universitário. Desse modo, são vistas e pensadas como passíveis de crimes, roubos, ainda hoje, e, portanto, criminosas em potencial ou não possuidoras de poder econômico, político e cultural.
Embora o termo independência seja um substantivo feminino que indica condição de liberdade, a independência do nosso país, em 1822, não trouxe mudança à condição jurídica de mulheres escravizadas. Pesquisas e leituras nos levam a pensar a mulher escravizada – africana ou descendente – como detentora de dupla base forjadora de sua constituição identitária, mas também da própria sociedade brasileira. A mulher africana escravizada, que chegou às Américas por meio da diáspora forçada, se tornou produtora e reprodutora, ao mesmo tempo, daquela e naquela sociedade. Produtora, pois ocupava distintas funções nos mundos rurais e urbanos, desempenhando ofícios nas lavouras, nas casas grandes e nas cidades como escravizada ao ganho. Reprodutora, principalmente a partir das leis de fim do tráfico (1831 e 1850), posto que ainda a escravidão continuasse vigorando fortemente em terras brasileiras. Seus filhos, a partir de então, poderiam ocupar o espaço problemático de reposição da mão de obra para ricos fazendeiros. E, não por acaso, alguns manuais de medicina apontam pedagogicamente como o senhor poderia incentivar suas escravizadas a terem filhos: com presentes ou premiações.
A relevância do papel das mulheres negras africanas escravizadas e de sua descendência, pode ser percebida não apenas nos diferentes ofícios que elas dominavam, mas também nas escolhas e no protagonismo nas pequenas margens tangíveis numa sociedade escravista. Sendo propriedade, poderia ela se negar aos mandos e desmandos senhoriais? Caetana, ainda na primeira metade do século XIX, disse “não” ao seu senhor, transgredira o sistema e o controle senhorial, ao se recusar a manter o casamento imposto pelo seu proprietário. O processo de nulidade de seu casamento – o único no qual escravizados estiveram envolvidos – serviu de fonte para o livro Caetana diz não, da historiadora Sandra Lauderdale Graham, publicado em 2005. Caetana transgrediu uma das bases da sociedade escravista: a família no modelo católico. Isso porque seu casamento havia seguido todos os trâmites religiosos da época, mas contra a sua vontade, e o seu “não” abalou toda a hierarquia masculina daquela sociedade patriarcal.
Nem tudo, no entanto, eram flores. A negação de uma escravizada às ordens estabelecidas pelo seu proprietário ou proprietária, rompiam os paradigmas sociais. De tal modo que, muitas delas não tiveram direito à maternidade e à amamentação. A cultura que existia muito antes do tráfico transatlântico, chegou às américas, onde mulheres cativas e o aleitamento forjaram comércio profícuo para diferentes proprietários(as). Em alguns casos, aquelas mulheres tiveram seus filhos retirados de seus cuidados e foram alugadas para amamentar outra criança, branca, filha(o) de algum proprietário/a, uma vez que mulheres brancas não alimentavam seus filhos(as). O comércio que alimentava crianças brancas, assolava outras com a fome, as negras, filhas e filhos das mulheres cativas. O uso de nutrizes no comércio de leite foi intenso no século XIX no Brasil.
Outras mulheres transgrediram e continuam a fazê-lo na sociedade brasileira. Maria Firmina dos Reis (1822-1917) ao descrever o escravizado de modo humanizado, no romance Úrsula (1859), rompeu barreiras culturais, tornando-se pioneira na escrita antiescravista e antirracista. A primeira romancista brasileira também ocupou o primeiro lugar no pódio de professora concursada do município de Guimarães no Maranhão. A historiadora Beatriz do Nascimento (1942-1995) foi professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos de negros e de mulheres, foi transgressora ao ocupar lugares predominantemente masculinos.
Mulheres negras na sociedade brasileira contemporânea, após 200 anos da Independência, transgrediram e conquistaram espaços antes inimagináveis. Superaram homens em anos de escolarização e adentraram no espaço acadêmico. Inversamente, isso não se converteu também em melhores salários ou cargos. Nem mesmo representou maior dignidade ou respeito. Mulheres negras ainda hoje são as maiores vítimas de violência doméstica e de feminicídio. Continuam a dizer “não”, todavia, nem sempre são ouvidas, segundo pesquisas do IPEA. Entre os anos de 2001 e 2011, constatou-se que a maioria das vítimas de feminicídio são jovens e negras (31% tem entre 20 e 19 anos, e 61% é preta ou parda), cujas mortes ocorrem no interior de suas casas, o que demostra que essa violência é geralmente infligida por parceiros ou ex-parceiros. As Caetanas do presente continuam a dizer “não”, a transgredir a ordem imposta por uma sociedade marcada pelo racismo, o machismo e o sexismo, mas poucas são ouvidas ou respeitadas em suas escolhas. Ainda que ocupem lugares de poder, como a vereadora Marielle Franco (1979-2018), do Rio de Janeiro, correm o risco de serem assassinadas por cumprir seus papéis. A brutalidade do seu assassinato chama a atenção para o fato de ser ela uma mulher preta, favelada, lésbica, que rompeu paradigmas sociais solidamente construídos ao longo do processo histórico de formação da sociedade brasileira. Mas seu corpo preto não teve direito à liberdade em um país independente. A mulher negra é fundamentalmente espaço e tempo de transgressão.

Para saber mais
XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barretos; GOMES, Flávio. Mulheres Negras no Brasil escravista e do pós-emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2012.
GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
MACHADO, Maria Helena P. T.; BRITO, Luciana da Cruz; VIANA, Iamara da Silva; GOMES, Flávio dos Santos. Ventres Livres? Gênero, maternidade e legislação. São Paulo: Editora Unesp, 2021.
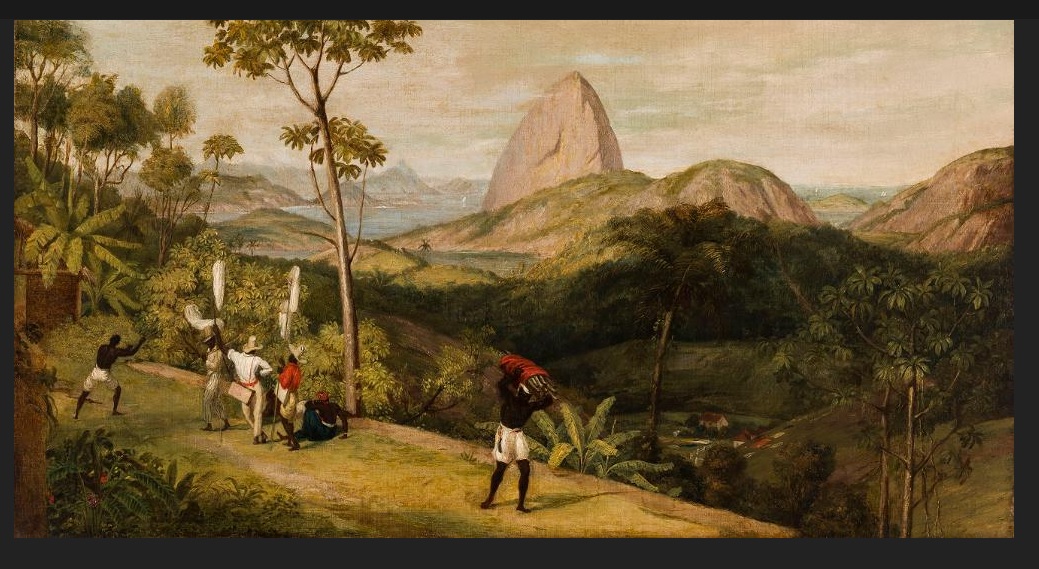
Charles Landseer. Rio de Janeiro, 1827
CONSTRUINDO O BRASIL POR MEIO DE ESTRADAS E DO TRABALHO COMPULSÓRIO
Télio Cravo
A tentativa de construção de pontes e estradas num extenso território, dotado de condições topográficas e hidrográficas, se não adversas, extremamente singulares, sem dúvida, é fato primordial para compreender os impasses da infraestrutura viária na formação do país. Pontes e estradas foram responsáveis por escoar um comércio interno intenso e demandaram conhecimentos de técnicas construtivas produzidas por engenheiros, artesãos e trabalhadores. Desejaram integrar circuitos mercantis internos e externos, dependeram de interesses fiscais, políticos e econômicos e, sobretudo, se valeram de diferentes formas coercitivas de trabalho: livres, libertos, escravizados, africanos livres, imigrantes, indígenas e galés.
Construir estradas e pontes significou operar valores, expectativas e marco distintivo da formação do Império do Brasil. Em dezembro de 1821, apressou-se o estabelecimento de uma comunicação interior entre as províncias de São Paulo e Minas Gerais. Criou-se uma linha de “correio por terra”, com direção para a Comarca de São João Del Rei. A carta egressa do Palácio do governo de São Paulo, assinada por José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), sublinhava o esforço de promover a comunicação interior entre São Paulo e Minas a fim de estimular o comércio interno de ambos, destruído pelo sistema administrativo do velho despotismo, e estreitar os “vínculos de amor, e fraternidade […], a formarem um só povo pela identidade de origem, de costume, de hábitos, e de sentimentos […]”. Os contornos políticos, expressos nos ofícios trocados entre as duas províncias, revelavam temores de invasão do Rio de Janeiro por tropas de Portugal. O governo de São Paulo anunciava a marcha de mil e cem homens em direção ao Rio de Janeiro e solicitava ao governo mineiro providências semelhantes: colocar em marcha suas tropas até a província de São Paulo para que “se encontrem com os daqui, e continuem a marcha […] até que cheguem a Corte do Rio de Janeiro”. A troca de ofícios entre os palácios de governo de São Paulo e Minas Gerais, territórios do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, colocavam em movimento a centralidade do Rio de Janeiro, capital do Império de uma Corte radicada no ultramar, as comunicações interiores, relações mercantis e a associação entre defesa militar, tropas e população.
Como resultado político da emancipação e dos contornos políticos, construir e manter as vias de comunicação exigiu um amplo continuum de graus de pressões coercitivas que foram usados para estimular a obtenção de mão de obra. Violência, mecanismos de controle e vigilância dos trabalhadores condicionaram e estruturaram o universo do trabalho. No caso dos escravizados, o sistema de aluguel de cativos para obras viárias rendia enormes somas monetárias para os proprietários escravistas. Quanto ao tempo de trabalho, impunham-se restrições e controle. O dia de trabalho contava com 10 horas, mas somente se contabilizava as horas efetivamente trabalhadas. Isto é, acidentes, chuvas, doenças ou qualquer outro tipo de interrupção resultavam automaticamente na redução do número de horas e, por conseguinte, no rebaixamento do montante a receber. Regular o tempo de trabalho ganhava contornos sob a tutela dos feitores ou dos administradores da obra. Era reservado aos trabalhadores uma hora e quarenta minutos para descanso e alimentação a cada dia de trabalho, sendo quarenta minutos para o almoço e uma hora para o jantar. A dieta básica dos trabalhadores era constituída por toucinho, feijão, farinha de milho, cachaça e ervas.
O sistema de aluguel de cativos contou com o uso da violência. Ao feitor, cabia somente aplicar castigos “leves”. Em caso de crime grave, o escravo era levado ao dono, que realizaria o castigo. Entretanto, dependendo da gravidade, o castigo ganhava um caráter pedagógico, sendo efetuado sob os olhares dos trabalhadores. Nesse emaranhado de processos interdependentes que, em curso, mobilizaram meios para desenvolver a infraestrutura viária, desenrolaram conflitos e tensões no mundo do trabalho.
O ajustamento de milhares de trabalhadores com distintas condições jurídicas e a presença do sistema de aluguel de escravos demonstram a violência como técnica de controle e a face da dominação senhorial e as novas formas de organização do poder em três níveis: a economia, o trabalho e o Estado. Obras viárias constituíram uma rede de serviços ligada à organização estatal que resultaram numa organização social laboral, caracterizada pelo trabalho intermitente; o elevadíssimo retorno monetário obtido pelos donos de escravos alugados; e a inversão na importação de escravos novos provenientes do tráfico transatlântico negreiro. É indispensável refletir sobre o processo histórico-social de integração territorial do Império do Brasil, sobre os quais o Estado e a nação se assentaram. Longe de uma transação política pacífica, com a internalização dos centros de poder, projetos de integração territorial descortinaram disputas e um universo de trabalhadores. Esses aspectos, ao mesmo tempo, que herdaram elementos políticos, culturais, institucionais e simbólicos das estruturas coloniais, foram transfiguradas pelo processo de ruptura da Independência.

Saiba Mais
CRAVO, Télio. Construindo pontes e estradas no Brasil Império: engenheiros e trabalhadores nas Minas Gerais (1835-1889). São Paulo: Alameda, 2016.
CRAVO, Télio. Sistema de aluguel de escravos em obras públicas viárias do Brasil Império. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, Rio Grande, v. 11, n. 22, p. 162-181, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3FJiJta. Acesso em: 13 mai. 2022.
CRAVO, Télio. Estrutura e dinâmica do trabalho compulsório e livre na infraestrutura viária do Império do Brasil: africanos libertos, escravizados e livres (1854-1856). História, São Paulo, v. 40, p. 1-19, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-4369e2021060.
LAMOUNIER, Maria Lucia. Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do século XIX. São Paulo: Edusp, 2012.
SOUZA, Robério. Trabalhadores dos trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na construção da primeira ferrovia baiana (1858-1863). Campinas: Editora Unicamp, 2015.
MENDONÇA, Joseli. Sobre cadeias de coerção: experiências de trabalho no Centro-Sul do Brasil do século XIX. Revista Brasileira de História, v. 32, n. 64, p. 45-60, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-01882012000200004.

Felix Taunay (c. 1830) - Mata reduzida a carvão
FRANÇA E BRASIL NA ÉPOCA DA INDEPENDÊNCIA:
QUANDO O HAITI FOI AQUI
Wilma Peres Costa
Quando evocamos o papel da França nas décadas iniciais da formação da nação brasileira, pensamos nas marcas da cultura francesa, na visualidade e na literatura. Em primeiro plano, o legado da colônia de artistas franceses que aqui chegou, em 1816, da qual o rico repertório de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) é o exemplo mais eloquente. Ele dominou a visualidade do período, das pinturas e gravuras que registraram os acontecimentos aos símbolos nacionais, entre os quais a própria primeira bandeira nacional, com o brasão que traz entrelaçados o fumo e o café. O pintor Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), integrante do mesmo grupo, com seus cinco filhos, registrou paisagens e retratos e um dos sues filhos, Félix-Émile Taunay (1795-1881), foi diretor da Academia Imperial de Belas Artes (1834), consolidando as bases do ensino artístico no Brasil. Também é conhecida a impregnação da cultura francesa no nascente movimento romântico brasileiro, em fecunda circulação de ideias, tópicas e escritos, estimulados no século XIX pelo viajante francês Ferdinand Denis (1798-1890), onde as temáticas indígenas, inspiradas em parte nos escritos de René de Chateaubriand (1768-1848), foram exploradas por poetas e romancistas.
Menos se fala sobre o papel de Chateaubriand e de outros franceses emigrados nas decisões que articularam os interesses da Restauração Bourbônica (1815-1830) com os acontecimentos americanos. Comecemos pelo contexto no sistema mundo: a rivalidade anglo-francesa e os efeitos sobre a França da fragorosa derrota por ocasião da Revolução de São Domingos (1791-1804), que levou à perda da sua colônia mais próspera, com enorme custo em vidas e bens materiais. Antes de 1816, sucessivas ondas de emigrados franceses chegavam a Portugal e seus domínios, em busca de proteção política, oportunidades econômicas e da expectativa de recuperar, nos trópicos, as condições ou parte da vida senhorial perdida nas tormentas revolucionárias. Alguns eram de famílias militares, como os Beaurepaire, os Escragnolle, Labatut, acolhidos já em Portugal, acompanhando D. João na vinda para América. Muitos deles foram proprietários em São Domingos, como a Condessa de Rochefeuil, que se juntou ao sobrinho, Jacques-Marie Aymard, o Conde de Gestas (1786-1837). A partir de 1816, além de artistas, chegavam também naturalistas e negociantes, de variadas inclinações políticas, inclusive antigos servidores de Napoleão, como Debret, os Taunays e o General Hogendorp (1761-1822), veterano das campanhas da Rússia.
Na Corte, o passado político pesava mais. Os Taunays tomaram outro caminho. Liderados pelo filho mais velho, militar condecorado das campanhas napoleônicas, foram se instalar na Tijuca, onde seus compatriotas estavam mais interessados nos negócios do que nas divergências políticas. Ali, a atividade agrícola se expandia rapidamente, atraindo imigrantes franceses de todas as vertentes. Ali, também, o General Hogendorp, o Conde de Gestas, a Baronesa Rouen e os Taunays podiam dedicar-se à agricultura em boa vizinhança, desde que tivessem recursos ou pudessem obter terras, que eram propícias ao cultivo do café.
A produção e exportação do café ocupava o nicho de oportunidade resultante da desorganização da produção de São Domingos, transformando em lavoura de exportação um cultivo que era feito, até então, em chácaras e quintais. A Tijuca foi um lugar importante de elaboração das técnicas de produção escravista do café, trazidas e adaptadas naquele lugar pelos emigrados franceses que se instalaram na Tijuca. O Duque de Luxemburgo, emissário diplomático francês, que viera em missão especial, em 1816, trazendo consigo o botânico e viajante Auguste de Saint Hilaire (1779-1853), havia servido em São Domingos e logo se interessou pela atividade, associando-se para isso a um parceiro de grande experiência e emigrado de São Domingos: o francês Louis François Lecesne (1759-1823), que se tornaria figura chave na propagação do café nos arredores do Rio de Janeiro. Tendo circulado pelo Caribe e pelos Estados Unidos, Lecesne era uma enciclopédia viva de conhecimentos sobre a plantação escravista. O Barão de Langsdorff (1774-1852), cônsul da Rússia que se associou às pesquisas dos franceses, considerava sua fazenda da Tijuca, como verdadeira escola.
Os interesses que gravitavam em torno do café nos arredores do Rio de Janeiro, valeram-se de estratégias políticas que se articulavam na França, a partir de 1821, quando desponta o protagonismo de René de Chateaubriand. O escritor e poeta tornou-se integrante do Ministério Villèle (1821-1828) e foi o ministro plenipotenciário no Congresso de Verona, em 1822. Sua atuação naquele encontro teve importantes desdobramentos para o emergente Império brasileiro. Procurando contrapor-se às pretensões inglesas sobre o mundo americano e responder às demandas dos colonos franceses por reparações pelas perdas sofridas em São Domingos, Chateaubriand enfrentou decididamente as pressões inglesas pela abolição do tráfico de escravizados impedindo a sua equiparação ao crime de pirataria. Esse posicionamento de contrapeso às pressões inglesas contra o tráfico, favorecia D. Pedro, e viria a esvaziar a eficácia dos tratados assinados por D. João e por ele mesmo, fazendo gravitar para o projeto pedrino as várias vertentes políticas da colônia francesa do Rio de Janeiro.
Chateaubriand via com simpatia os acontecimentos que, no Brasil, apontavam para a possibilidade de enraizamento da monarquia constitucional, a partir de um monarca legítimo, forma que ele considerava necessária para o futuro da monarquia nos dois mundos. Constitucionalismo mitigado, mantendo a câmara dupla e as rédeas do poder nas mãos do rei.
No Rio de Janeiro, ele contava com um importante mediador. Aymar de Gestas de Lespéroux (1786-1835), o Conde de Gestas, foi enviado pelo príncipe D. Pedro à França, após a decisão do Fico (janeiro de 1822), com uma carta pessoal pedindo a proteção a Luís XVIII, voltando de lá como cônsul-geral francês no Brasil, com uma generosa dotação em dinheiro. Chateaubriand promoveu o casamento de Gestas com sua sobrinha (e afilhada), retornando o casal para o Rio de Janeiro. O primeiro filho deles se chamou Pedro e teve o casal imperial como seus padrinhos. A partir daí a sua missão passou a ser a de aplainar as dificuldades para o reconhecimento do Império por parte da França e, mais tarde, obter um tratado de comércio que equiparasse à França as vantagens que eram obtidas pela Inglaterra. A fazenda Boa Vista, na Tijuca, residência do Conde de Gestas, e da sua tia, a duquesa de Roquefeuil consolidou-se como ponto obrigatório da sociabilidade dos estrangeiros que visitavam a Corte, sendo frequentada também pelo casal real.
Os Taunays, que eram vizinhos de Gestas, abaixo da Cascatinha, e dela estavam afastados pela condição social, também teriam aí o seu papel. O mais velho, o Major Charles Auguste Taunay (1791-1867) combateu em defesa da causa de D. Pedro, na Bahia e no Maranhão. Mais tarde, publicou o Manual do Agricultor Brasileiro, onde consolidava conhecimentos relevantes para a instalação e gestão da cultura agrícola tropical com mão de obra escravista, cujos primeiros capítulos surgiram em 1831. O outro irmão “não artista”, Theodore-Marie Taunay (1797-1830), seria secretário do Conde de Gestas e seu sucessor no trabalho do Consulado Francês (1830), posição chave para a defesa dos interesses dos proprietários e para a gestão de seus bens. Ativo e discreto, o vice-cônsul Theodore, tornou-se conhecido pela sua atividade na Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, junto do Conde de Gestas. Com sucesso, contribuíram para que, de certa forma, o Haiti fosse aqui, recompondo-se no sul da América em novas configurações.
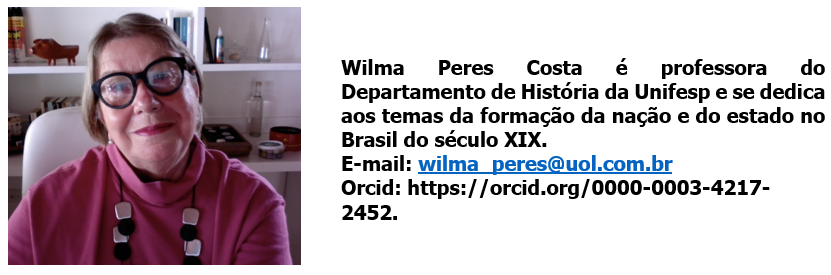
Saiba mais
MARQUESE, Rafael. A Ilustração luso-brasileira e a circulação dos saberes escravistas caribenhos: a montagem da cafeicultura brasileira em perspectiva comparada. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 855-880, 2009. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-59702009000400002
FERREZ, Gilberto. Pioneiros da cultura do café na era da independência: Louis François Lecesne e seus vizinhos. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura. 1978.
CHATEAUBRIAND, François-René de. Le congrès de Vérone; Guerre d’Espagne. Paris: Garnier, 1861, v. 12 (Oeuvres Complètes).
TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro. São Paulo: Cia. das Letras, 2001 [1839].
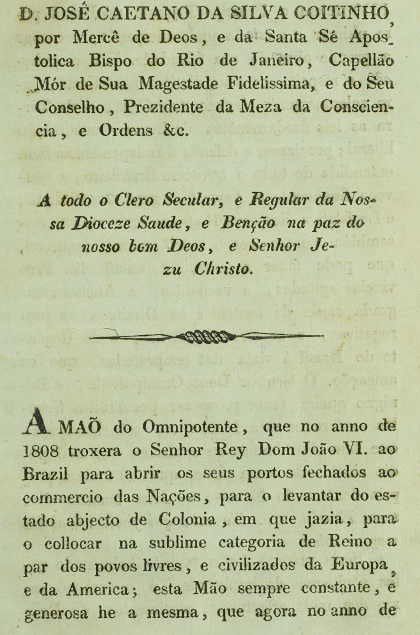
OS BISPOS E A REVOLUÇÃO
A Revolução do Porto sacudiu o império português e exigiu dos bispos no Brasil um posicionamento frente ao constitucionalismo e a independência.
Ítalo Domingos Santirocchi
A Igreja Católica ficou conhecida no século XIX por ter entrado em uma “Santa Aliança”. O objetivo era deter o avanço das revoluções liberais que pipocavam pela Europa e América após a Revolução Francesa (1789-1799), com o fortalecimento do capitalismo e as independências na América Latina. As palavras de ordem revolucionárias eram constituição, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, entre outras. No Império Português, a Revolução Liberal do Porto, de 24 de agosto de 1820, antecedeu a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Mas como os bispos católicos no Brasil reagiram ao movimento revolucionário e ao constitucionalismo? Em sua maioria defenderam a revolução publicamente.
É impossível dividir todos os grupos e projetos políticos daquele tempo em dois lados opostos. A realidade é muito mais complicada. Em linhas gerais, parte das forças políticas que buscavam deter as revoluções liberais se juntaram na Santa Aliança, formada pelo Império Russo, Império Austríaco e Reino da Prússia. Os representantes da Igreja Católica participaram dos debates que formaram a aliança, mas não assinaram o acordo.
O papa buscava uma imagem de neutralidade, mas, essencialmente, precisava de independência e de liberdade para sua ação diplomática e administrativa nos diferentes países. A Igreja Católica estava presente em regiões que haviam abraçado o constitucionalismo ou até mesmo o republicanismo, como aconteceu nas Américas: nas antigas colônias espanholas e portuguesa. Enquanto o papado fazia um discurso geral antirrevolucionário, observava com apreensão os acontecimentos e estabelecia relações com quem detinha o efetivo comando nos diferentes territórios. Mas como ficava a situação nas dioceses e nas paroquias, onde os bispos e os padres deviam tomar uma decisão em relação às revoluções que lhe envolviam?
Nas vésperas da Independência, o Brasil contava com sete dioceses, cujos bispos eram: D. Vicente da Soledade e Castro – Salvador (BA); D. Joaquim de Nossa Senhora da Nazaré – São Luís (MA); Sede Vacante (sem bispo naquele momento) – Olinda (PE); D. José Caetano da Silva Coutinho – Rio de Janeiro (RJ); D. Romualdo de Souza Coelho – Belém (PA), D. Mateus de Abreu Pereira – São Paulo (SP), D. Frei José da Santíssima Trindade – Mariana (MG) e duas prelazias: D. Francisco Ferreira de Azevedo – Goiás (GO); D. Luís de Castro Pereira – Cuiabá (MT).
Vários bispos que governavam essas dioceses se manifestaram oficialmente em relação à revolução liberal, também conhecida como Regeneração da Nação Portuguesa. O documento utilizado pelos bispos, para expressarem suas posições ao clero e aos fiéis, era a Carta Pastoral. Em pesquisa que venho realizando, encontrei as cartas pastorais de seis deles. Todas apoiavam a revolução e a elaboração de uma constituição, desde que se mantivesse a Igreja Católica unida ao estado, como religião oficial.
As pastorais constitucionais, como eu as nomeei, defendiam uma monarquia constitucional e com câmaras eleitas por voto censitário (ou seja, pelos homens livres, que tivessem uma certa renda anual). Essas cartas não concordavam em tudo.
As pastorais dos bispos do Pará, Maranhão e Bahia, defendiam que o poder central deveria permanecer em Lisboa e resistiam, com suas províncias, contra a Independência do Brasil. Pregavam a união entre a Igreja e o Estado, mas com distinção e respeito entre os poderes.
Os bispos da Bahia e do Pará defendiam ferrenhamente o constitucionalismo em suas cartas; segundo D. Romualdo (PA), em sua pastoral de 20 de janeiro de 1822, a adesão do rei à Constituição seria um retorno às leis naturais, elaboradas pelo Autor da Natureza, ou seja, Deus, nas quais o homem se inseria e deveria seguir para a sua felicidade. O povo, então, teria dividido parte da Soberania Natural com o Rei e com os representantes eleitos, que seriam os delegados da nação e representariam a Soberania Nacional, com a função de elaborar a Constituição e as leis. O Rei, a partir desse momento, seria Constitucional, Católico Romano, justo e virtuoso, teria “a segurança do trono, não nas incertas bocas de fogo, e pontas de baionetas; porém sim no coração, na ternura, e no amor da Nação, bases solidas, e que se não minam”.
Pernambuco era a única diocese que estava sem bispo, em sede vacante. Era governada pelo Cabido, ou seja, um colegiado de padres que ajudavam os bispos na administração do território eclesial. Em sua Carta Circular ao Clero, de 21 de maio de 1822, defendiam o Rei D. João VI, após aderir à revolução, “É Constitucional, é Católico Romano, é justo e virtuoso”. Eles inicialmente buscaram ficar em cima do muro, agradando a Lisboa e ao príncipe D. Pedro, no Rio de Janeiro. Com a abertura da Assembleia Constituinte, em 1823, e a outorga da Constituição, em 1824, passaram a apoiar definitivamente a independência. Em relação à união entre a Igreja e o Estado, o Cabido de Olinda defendia sua permanência, mas com o poder espiritual ficando submisso ao poder estatal.
Os bispos do Rio de Janeiro e de Goiás apoiavam não só o constitucionalismo, mas também abertamente a Independência do Brasil. Ambos defendiam a união entre Estado e Igreja, com autonomia dos dois poderes.
Para o bispo do Goiás, em sua pastoral de 4 de agosto de 1822, a população da sua diocese não era obrigada a ficar fiel a um juramento dado às Cortes de Lisboa, que lhes traria dano e ruína. O povo de Goiás deveria, portanto, pegar de volta o poder que Deus lhes deu e dá-lo a um novo representante. Segundo o bispo, o poder dado aos reis “é mediante ‘Populo’ em que reside o poder para comunicar aos Reis; que só um povo livre o pode dar, escolhendo o Rei, como primeiro Magistrado da Nação para o fazer executar”. E o povo, agora, deveria jurar e comunicar esse poder a D. Pedro.
O bispo do Rio de Janeiro sempre esteve ao lado de D. Pedro, abençoando todos os seus atos no caminho que acabou levando a Independência do Brasil, por isso escreveu a seus fiéis, na sua pastoral de 30 de junho de 1822: “A MÃO do Omnipotente, que no ano de 1808 trouxera o Senhor Rei Dom João VI ao Brasil para abrir os seus portos fechados ao comércio das Nações, para o levantar do estado abjecto de Colônia, em que jazia, para o colocar na sublime categoria de Reino a par dos povos livres e civilizados da Europa e da América; esta Mão sempre constante e generosa é a mesma, que agora, no ano de 1822, retém o Príncipe Regente no Brasil para ultimar o ato da sua emancipação e coroar a grande obra da sua felicidade”. A Providência, a Mão de Deus, a Vontade Divina, estava traçando o caminho da Independência, no qual, na opinião do bispo, a família real teria papel central.
Os bispos no Brasil fizeram uma leitura política a partir do contexto das regiões nas quais viviam e pastoreavam. Abraçaram a revolução, o constitucionalismo e posteriormente quase todos aderiram à Independência do Brasil, com exceção de dois, o arcebispo da Bahia, que continuou fiel o governo liberal de Lisboa e o bispo do Maranhão, que, após voltar a Portugal, aderiu ao movimento antirrevolucionário. Em um balanço geral, a Igreja no Brasil aderiu sinceramente ao constitucionalismo. Naquela época, como hoje, religião e política andavam lado a lado.

Saiba mais
FARIA, Ana Mouta. A hierarquia episcopal e o vintismo. Análise Social, Ann Arbor, v. XXVII, n. 116-117, p. 285-328, 1992. Disponível em: https://bit.ly/3yA7O3m. Acesso em: 13 mai. 2022.
LÓPEZ-BREA, Carlos Rodríguez. La Santa Sede y los movimientos revolucionarios europeos de 1820. Los casos napolitano y español. Ayer, Logroño, n. 45, p. 251-274, 2002. Disponível em: https://bit.ly/37GSU0b. Acesso em: 13 mai. 2022.
SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. Do altar à tribuna: os padres políticos na formação do Estado Nacional brasileiro (1823-1841). Tese (Doutorado em História). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3l7vWCB. Acesso em: 13 mai. 2022.

Celebração em homenagem ao 2 de Julho [data desconhecida] — Foto AHMSSecult
OUTROS GRITOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL*
Ynaê Lopes dos Santos
O grito “independência ou morte!” marcou um novo tempo na história do Brasil. Naquele 7 de setembro de 1822, D. Pedro, até então príncipe regente, marcava a emancipação política do território que pertencia a seu pai. O feito foi muito menos pomposo do que o quadro pintado por Pedro Américo, em 1888, justamente um ano antes da queda do Império do Brasil. O grito às margens de um rio pouco caudaloso – muitos diriam que não passava de um córrego – não fora ensaiado. Foi quase um rompante do príncipe, agora imperador, tomando as rédeas de uma independência que já havia sido assinada por sua esposa dias antes, uma informação quase esquecida num país que insiste em silenciar a atuação das mulheres.
Gerações e mais gerações de brasileiras e brasileiros foram ensinados a pensar a Independência do Brasil tendo o 7 de setembro como seu começo, meio e fim. Uma Independência ou Morte!, que na realidade foi construída anos depois, que pouco fala sobre o complexo e intrincado processo que culminou na emancipação e soberania deste país, que a partir de então passou a se chamar Brasil.
É uma versão dos fatos marcada pelo que se tornou praxe ao contar a história do Brasil: a passividade do brasileiro, sobretudo do povo, formado pelo harmonioso encontro das três raças. Uma grande e redonda mentira.
Não foi por acaso que D. Pedro I bravejou Independência ou Morte! naquele 7 de setembro. Ele sabia muito bem o quão esquentados estavam os ânimos de seus súditos. Sabia também que, num tempo não muito longínquo, esses mesmos súditos haviam ousado pensar um país independente e soberano. Por vezes, um país republicano – como na Inconfidência Mineira (1789), na Conjuração Baiana (1798) e na Revolução de Pernambuco (1817). Em momentos mais audaciosos, um país sem escravos.
Mas não foi isso que aconteceu. O 7 de setembro de 1822 foi também a escolha por uma monarquia – que tinha a particularidade de ser um quarto poder – cuja base social era composta por milhares de escravizados, africanos e nascidos no recém-criado país. Como bem disse o historiador Luís Felipe de Alencastro, o Brasil nasceu apostando na escravidão, projetando-a no seu futuro.
Uma aposta que explica muito o Brasil de hoje e os significados que estão tentando atribuir a esse 7 de setembro. Um Brasil forjado por e para os interesses de uma classe política e econômica muito bem desenhada, que fez tudo o que estava ao seu alcance para manter seus privilégios e propagar sua visão de mundo, que entendia a população branca como a única detentora do poder e do próprio fazer histórico. Um país para poucos. Os mesmos poucos de sempre.
Mas a questão é que houve independência, e houve morte! Porque não foi apenas a elite econômica e política que desejou uma nação soberana. O povo também a queria. E mais, o povo – esse ser amorfo, heterogêneo, polifônico e profundamente poderoso – lutou por essa liberdade, disputando à unha os possíveis sentidos que ela poderia ter.
É extremamente significativo que tenhamos aprendido tão pouco sobre as Guerras de Independência no nosso próprio país. Como se elas nunca tivessem existido. Mas se nossa soberania foi mais do que um grito, foi porque teve gente lutando e morrendo em nome dela. Piauí, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia. Essas foram algumas das localidades brasileiras nas quais o povo não branco deu novos sentidos para o Brasil, mostrando que o 7 de setembro de 1822 só perseverou graças à luta pela independência da Bahia, que começou em 1822 e culminou no 2 de julho de 1823.
Homens e mulheres, negros, indígenas, mestiços, pobres e nem tão pobres fizeram com que o 7 de setembro se transformasse na nossa primeira data cívica. Foram eles que lutaram, sangraram e, por vezes, morreram por um país que insiste em enterrar seus conflitos e enfrentamentos.
Controlar o passado é uma forma eficaz de definir o futuro. Essa é uma das mais antigas estratégias de exercício de poder. Por isso, precisamos revisitar o passado com criticidade. Porque munidos de um olhar apurado, e de novas perguntas, vamos escutar as vozes de Maria Felipa, uma mulher negra que liderou mais de 200 pessoas contra os portugueses nas batalhas travadas na ilha de Itaparica, na Bahia. Ou então ouviremos Joana Angélica, uma senhora branca, pertencente a uma ordem religiosa, que morreu em nome da Independência do Brasil. Ouviremos também as vozes de Francisco Montezuma e de seus comparsas, muitos homens negros, que queriam que a liberdade do Brasil se estendesse à população escravizada.
Como bem disse o samba-enredo da Mangueira, vencedor do Carnaval de 2019, ao procurarmos “a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar”, veremos que um outro 7 de setembro pode e deve ser nosso. Lutemos por ele.
*Texto originalmente publicado na coluna Negros Trópicos na DW Brasil, em 06/09/2021.

Para saber mais:
REIS, João José. O jogo duro do Dois de Julho: o partido negro na Independência da Bahia. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, v. 13, p. 47-60, 1987.
SANTOS, Ynaê Lopes dos. O racismo brasileiro. Uma história da formação do país. São Paulo: Todavia, 2022.
SILVA, Luiz Geraldo. Sementes da sedição'. Revolta escrava, etnia e controle social na América portuguesa (1750-1815). Afro-Asia (UFBA), Salvador, BA, v. 25-26, p. 09-60, 2001.

Alegoria do Tratado de Comércio de 1810 feita por Joaquim Carneiro da Silva
A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E A RELAÇÃO COM A INGLATERRA: UMA COLÔNIA DO IMPERIALISMO INGLÊS?
Carlos Gabriel Guimarães
“Dizem os negociantes da Praça desta Corte do Rio de Janeiro, que eles se veem na mais dura consternação com a perda total no giro de seu comércio porquanto os ingleses têm obrado no comércio de tal modo que os suplicantes têm muito fixados suas casas, e lojas de fazenda […]”. A citação de um manifesto dos negociantes brasileiros e portugueses da Praça do Comércio do Rio de Janeiro, de data não mencionada, mas posterior à chegada da Corte no Rio de Janeiro, em 1808, reforça a visão muito enfatizada pelos livros didáticos de História do Brasil. A questão que surge é a seguinte: ficou o Brasil dependente e subordinado aos ingleses com a Independência? O Brasil substituiu Portugal pela Inglaterra, se tornando uma colônia do imperialismo inglês?
Gilberto Freyre, no livro Os Ingleses no Brasil, publicado em 1948, destacou a importância da presença e da modernidade dos ingleses no país. Embora destacasse a presença cultural inglesa no cotidiano brasileiro, o livro de Freyre corroborou com a tese da preeminência inglesa no Brasil, proposta por Alan K. Manchester (1933). Segundo Manchester, com a abertura dos portos (1808), os tratados de Comércio e Navegação e Aliança e Amizade (1810) e a Independência do Brasil (1822), essa última com a contração do empréstimo com os ingleses para o reconhecimento da independência por parte de Portugal, os ingleses hegemonizaram as relações econômicas e políticas do Brasil.
John Luccock (1770-1826), negociante e viajante inglês, escreveu um relato em 1820 sobre a sua estadia no Rio de Janeiro e a sua importância para o comércio inglês. Luccock ressaltou, entre outras coisas, a presença inglesa no Rio de Janeiro, o impacto da chegada da Corte ao Rio (1808) e a centralidade do Rio de Janeiro no comércio interno com Minas Gerais, e no Atlântico Sul, com as suas ligações comerciais com a costa norte Fluminense (até o Espírito Santo), o Sul Brasileiro (até o porto do Rio Grande no Rio Grande de São Pedro do Sul) e o Rio da Prata.
Analisando o comércio exportador e importador brasileiro, não existiu dúvidas da tendência dos ingleses de controlarem as importações de certas mercadorias, como as das “fazendas secas”, ou seja, de fios e tecidos de algodão, lã e linho, oriundos da indústria têxtil revolucionária inglesa, como também das exportações brasileiras de açúcar, café e outras commodities oitocentistas. Nesse comércio de “longo curso”, destacaram-se firmas como Francis Le Breton & Co., Carruthers & Co., Phipps Brothers & Co., Edward Johnston & Co., muitas formadas ainda no período joanino (1808-1821), outras do I Reinado (1822-1831) em diante. É importante ressaltar a presença de outras firmas e negociantes estrangeiros como norte-americanos, hamburgueses e portugueses nesse comércio, tais como Maxwell, Wright & Co., James Birckhead, Schroeder & Co. e outras.
Porém, quando analisamos outras atividades comerciais de grande lucratividade, como o comércio de escravos com a África, os ingleses não participaram diretamente, e sim de forma indireta, se beneficiando mesmo com toda proibição oficial por parte do governo britânico. O que também vale para o comércio da cabotagem costeira brasileira, que só foi liberada para os estrangeiros na década de 1860.
Aliás, sobre o comércio de escravos africanos, importante ressaltar que o governo britânico, desde o período joanino no Rio de Janeiro, pressionou para acabar com essa atividade. Desde os tratados de 1810, e principalmente após as guerras napoleônicas, com o tratado de 1815 e a Convenção de 1817, celebrados entre o príncipe e, depois, rei D. João VI com o monarca britânico, a Inglaterra pressionou para acabar com o infame comércio.
Mas, a necessidade fiscal do Reino de Portugal com sede no Rio de Janeiro, como o imposto de meia siza sobre o comércio de escravos (imposto arrecadado na razão de quarenta mil réis por cada escravo), a força política e econômica dos negociantes escravistas brasileiros e portugueses, particularmente do Centro-Sul do Brasil, e a expansão das lavouras açucareira e cafeeira no Vale do Rio Paraíba (do alto Paraíba em São Paulo até o Baixo Paraíba em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro) e do abastecimento em Minas Gerais, necessitando cada vez mais de trabalho escravo, fez com que o comércio de escravos ficasse proibido somente acima da linha do equador. Tal determinação prejudicou o comércio na costa ocidental africana, região preferencial de atuação dos comerciantes de escravos baianos e pernambucanos. A costa do Congo-Angola e oriental africana ficaram à mercê dos negociantes da Praça do Rio de Janeiro, como o negociante e senhor de engenho de Ubá, em Vassouras (RJ), João Rodrigues Pereira de Almeida (1774-1830) e outros.
Face ao poder político e econômico envolvendo os negociantes, a “nobreza da terra” (classe de proprietários de terras e de escravos não tituladas no período colonial) e a burocracia da Corte no Rio de Janeiro, podemos compreender a relutância em aceitar a pressão inglesa contra o comércio de escravos. Com a independência do Brasil e a necessidade do reconhecimento por parte de Portugal, a Inglaterra viu renascer a possibilidade de acabar com o infame comércio brasileiro. Com as finanças em baixa com a Guerra da Independência (1821-1824), somado à retirada dos recursos do tesouro com o retorno de D. João VI e da corte portuguesa para Portugal (1821), D. Pedro I teve que recorrer à Inglaterra para financiar a dívida do reconhecimento de Portugal e de toda a Europa.
O “empréstimo português” no valor de 3,7 milhões de libras esterlinas marcou a origem da dívida pública externa do Brasil e para muitos a dependência financeira do Brasil com a Inglaterra ao longo do século XIX. Mas, mesmo sendo credor, a Inglaterra não conseguiu se impor politicamente, pois o Brasil, mesmo com a ilegalidade do comércio de escravos, com a Lei de 1831 (A Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831), conhecida erroneamente como a “Lei para Inglês ver”, somente em 1850 pôs fim ao comércio transatlântico de escravos (A Lei Eusébio de Queirós, Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850). Além disto, em 1862, em virtude do comércio ilegal de escravos, o Brasil rompeu diplomaticamente com a Inglaterra, com a Questão Christie. A retomada das relações viria durante a Guerra da Tríplice Aliança e longe de achar que o Brasil era cúmplice da Inglaterra contra o Paraguai. Mas, essa foi outra História.
Retornando as questões do texto, não é correta a ideia de que o Brasil fosse subordinado e dependente dos ingleses ou que estivesse sob um imperialismo inglês. É necessário discutir e analisar melhor as relações entre os brasileiros e os ingleses no Brasil, suas relações com os respectivos governos e a diplomacia inglesa.

Saiba mais:
ARRUDA, José Jobson de Andrade Arruda. Uma Colônia entre dois Impérios: A Abertura dos Portos brasileiros, 1800-1808. Bauru, SP: EDUSC, 2008.
BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos: A Grã-Bretanha, o Brasil e a questão do comércio de escravos, 1807-1869. Tradução de Luís P. A. Souto Maior. Brasília: Senado Federal, 2002.
FREYRE, Gilberto. Ingleses no Brasil. Aspectos da influência britânica sobre a vida, a paisagem e a cultura do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000 [publicação original 1948].
LUCCOK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil (1808-1818). Tradução de Milton da Silva Rodrigues e apresentação de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975 [publicação original em 1820]
MANCHESTER, Alan K. Preeminência inglesa no Brasil. Tradução de Janaína Amado. São Paulo: Brasiliense, 1973 [publicação original em 1933].

Arquivo Nacional. Foto da autora
A INDEPENDÊNCIA EM TEMPOS DE MILAGRE
Em 1972, o Brasil celebrou os 150 anos da Independência, ocorrida em 1822. A ditadura militar, no auge do milagre brasileiro e dos anos de chumbo do regime, celebrou a data com pompa.
Janaína Martins Cordeiro
Em 1972, o Brasil preparava-se para comemorar os 150 anos de sua independência política de Portugal, ocorrida em 1822. Então, a ditadura preparou uma grande festa cívica, que deveria ocorrer ao longo de quase cinco meses, entre abril e setembro, mobilizando o país de Norte a Sul. Para o regime, já no poder há oito anos, era importante contar, naquele momento, a sua própria história da Independência. Tratava-se, portanto, de inserir o golpe de 1964 – chamado por seus adeptos, de ontem e de hoje, de “revolução” – e a ditadura como desdobramento natural da história do Brasil. Para tanto, a ditadura soube mobilizar personagens e eventos, construindo uma narrativa específica dos acontecimentos, celebrando, assim, o passado, mas também o presente.
Àquela altura, quando a festa aconteceu, o regime se tornava cada vez mais violento e eficiente na caça aos seus inimigos. Desde a edição do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, o general presidente da vez tinha plenos poderes para dissolver o Congresso Nacional, decretar intervenção nos estados e municípios, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos por até dez anos, bem como o direito ao habeas corpus, dentre outros. Além disso, com o passar dos anos, os órgãos de informação e repressão do regime foram aperfeiçoados e, na primeira metade da década de 1970, funcionavam à pleno vapor. A tortura tornou-se política de Estado. Prisões arbitrárias, desaparecimentos de opositores, censura à imprensa. Tudo isso estava na ordem do dia. Eram os anos de chumbo da ditadura.
Ao mesmo tempo, em um aparente paradoxo, o Brasil vivia também verdadeiros anos de ouro. Uma espécie de euforia nacionalista e desenvolvimentista generalizou-se, impulsionada pelos efeitos de determinada política que levou o país a ingressar em um período de recuperação e crescimento econômico. Vitórias esportivas – dentre as quais, a conquista do tricampeonato mundial de futebol, em 1970 – somavam-se às inúmeras, incontáveis obras estruturais que rasgavam o país de Norte a Sul. As facilidades de crédito viabilizaram o acesso à casa própria e ao carro zero, sobretudo para as classes médias. O controle da inflação permitiu também a muitas famílias adquirirem bens, como geladeira e televisão – em cores em alguns casos –, símbolos do Brasil moderno.
Foi nesse contexto que o regime se empenhou, ao longo de todo o ano de 1972, em celebrar o Sesquicentenário da Independência do Brasil. Sob esse aspecto, as comemorações deveriam retratar o país do milagre: a grandeza cívica e o crescimento econômico, mas também a força e o pulso firme do Brasil e da ditadura.
Em janeiro de 1972, foi criada a Comissão Executiva Central (CEC) para dirigir e coordenar as comemorações. A CEC definiu a narrativa e o calendário das comemorações, ou seja, que datas, acontecimentos e personagens deveriam ser celebrados e como suas histórias deveriam ser contadas, o que deveria ser lembrado, o que precisava ser esquecido. Tais escolhas deveriam expressar não apenas o desejo e a importância de voltar-se para o passado nacional, mas também deveriam ser pródigas na celebração do momento de grandeza, de acelerado crescimento econômico e otimismo crescente que envolvia segmentos significativos da sociedade brasileira naqueles primeiros anos da década de 1970.
Foi nesse sentido que o mote das comemorações se centrou na ideia de que se o 7 de setembro de 1822 representava a conquista da independência política pelo Brasil, 150 anos depois, a ditadura promovia uma outra e fundamental conquista: a independência econômica. Assim, o país livre, politicamente independente desde 1822, alcançava, então, com os militares, a maturidade e, enfim, a autonomia econômica que faria do Brasil uma potência mundial.
Na grande celebração proposta pelo regime, a festa concentrou-se efetivamente em duas personagens que ganharam, ao longo dos séculos XIX e XX, auras de heróis nacionais. Foram eles, Tiradentes e D. Pedro I. Assim, a abertura oficial dos festejos ocorreu em 21 de abril, dia de Tiradentes, e somente terminaram no dia 7 de setembro, tendo como ponto alto a repatriação dos restos mortais de D. Pedro I, de Portugal para o Brasil. Entre uma data e outra, cinco meses inteiros de festas nos quais a ditadura se expôs solene aos brasileiros, festejando a História-Pátria, mas também, e principalmente, o presente e as perspectivas de futuro.
As comemorações do Sesquicentenário devem ser compreendidas como um momento no qual a ditadura, ao se apropriar da História Nacional e imprimir a ela suas próprias cores e referências, buscou estabelecer diálogo com importantes tradições cívico-patrióticas, incorporando-se a elas. Ao mesmo tempo, não é possível compreender o tom das comemorações sem considerar o contexto do regime e do milagre brasileiro, em suas complexidades e contradições.
Portanto, a celebração do Sesquicentenário foi um momento em que a ditadura se voltou para o passado com os pés profundamente fincados no presente, exaltando, antes de mais nada, a noção de “construção do novo”. Sem perder de vista que, pela lógica do regime, construir esteve sempre associado à ideia de vigilância, porque os inimigos do povo conspiram. Assim, a celebração do Sesquicentenário, conforme realizada pela ditadura, sintetizou bem as expectativas em torno da construção do Brasil potência. Tais expectativas, no entanto, somente puderam se realizar em função de um duplo que a ditadura conseguiu articular bem e colocar em prática: a coerção e o consentimento.
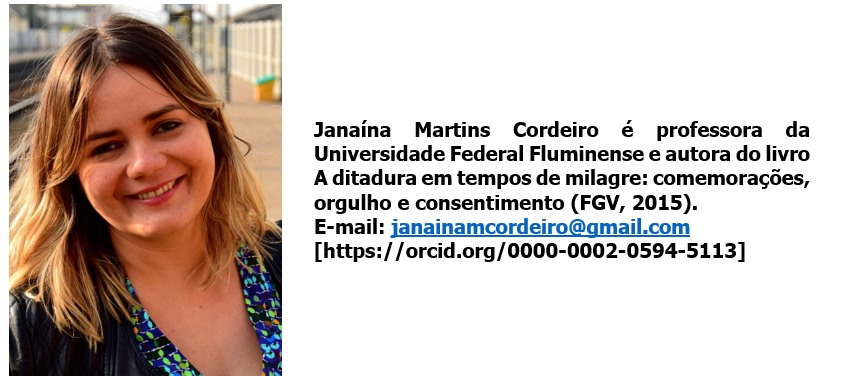
Saiba mais
CORDEIRO, Janaina Martins. A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento. Rio de Janeiro: FGV, 2015.
FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 1997.
REI, Bruno Duarte. Celebrando a pátria amada: esporte, propaganda e consenso nos festejos do Sesquicentenário da Independência do Brasil (1972). 1. ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2020.

Pedro Paulo Cantalice Estigarríbia , “José de Abreu em Passo do Rosário,” EBAcervo
UMA MONARQUIA ENTRE REPÚBLICAS
Ao invés de celebrar a Independência, países vizinhos desconfiaram e preferiram isolar o Brasil
Fabrício Prado
Em setembro de 2022, o Brasil completa 200 anos de independência. É provável que venha a receber mensagens de congratulações pelo bicentenário, vindas de chefes de estado de toda a América Latina. Tal situação será muito diferente das relações após 1822, quando as recém-independentes repúblicas latino-americanas ficaram desconfiadas com uma independência que resultou numa monarquia nas Américas. Para muitos, aquele movimento servia à ideia de mudar para que tudo ficasse como era, incluindo as políticas expansionistas do colonialismo europeu. Ao sul, para as Províncias Unidas (atual Argentina), o surgimento do Brasil imperial manteve a política de expansão e conquista territorial no Rio da Prata, engendrada por Portugal: seguia a ocupação do território do atual Uruguai, fator decisivo na negativa em reconhecer oficialmente a Independência do Brasil. Ao norte, na Grã-Colômbia (atuais Venezuela, Colômbia e Equador) e repúblicas da América Central, recaiam suspeitas e receios – bastante plausíveis – em reconhecer um império liderado por um nobre europeu no Brasil, provocando temor em legitimar uma monarquia absolutista e suas pretensões de expansão territorial nas fronteiras Amazônicas.
Se atualmente a Argentina é a maior parceira comercial do Brasil na América Latina, em 1822, as Províncias Unidas do Rio da Prata manifestaram desconfiança e hostilidade para com a nascente monarquia brasileira. Essa postura se deveu à continuidade da ocupação e incorporação do território da Banda Oriental (atual Uruguai) como uma província do Império – a Província Cisplatina, iniciada sob a égide do Império Português, em 1816. Desde o início das guerras de independência no Rio da Prata (1810), a região do atual Uruguai tinha sido objeto de disputa entre espanhóis, portugueses, revolucionários de Buenos Aires e o movimento de cunho popular e federal, liderado por José de Artigas. A invasão da Banda Oriental por tropas Luso-Brasileiras, em 1816, e a anexação da região ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1821, sempre foram alvo de protestos por parte de Buenos Aires. Em 1822, quando o Brasil surgiu como um país independente e manteve suas pretensões sobre a Banda Oriental, o governo revolucionário de Buenos Aires insistiu em não reconhecer a legitimidade da expansão territorial brasileira sobre a região e, por isso, evitou reconhecer formalmente a independência do Brasil. Foi esse impasse, aliás, que levou à eclosão do primeiro conflito militar entre os novos vizinhos sul-americanos. Em 1825, quando líderes estancieiro-militares da Banda Oriental se rebelaram contra o domínio Brasileiro, com apoio das Províncias Unidas, teve início a chamada Guerra da Cisplatina (1825-1828), que opôs as Províncias Unidas ao Brasil e que resultou na independência do Uruguai, em 1828.
Mas os vizinhos platinos não eram os únicos a nutrir desconfianças quanto ao surgimento de um Brasil independente e monarquista. Ao Norte, tanto as repúblicas do México e da América Central, assim como a Grã-Colômbia, mantiveram desconfianças acerca do Brasil Império. Parte dessa reação deveu-se ao retumbante fracasso da curta experiência imperial no México (1822-1823). Em seu breve reinado, o imperador mexicano Iturbide I rapidamente concentrou poderes e assumiu ares despóticos. Essa experiência culminou com a proclamação da República Mexicana, o fuzilamento de Iturbide, e a independência das repúblicas centro-americanas. Entretanto, o ocorrido no México foi um sinal de alerta entre as repúblicas hispano-americanas acerca dos perigos despóticos das monarquias.
Na Grã-Colômbia, Simón Bolivar também expressou sua desconfiança de um império de um príncipe Europeu nas Américas. Ele via como ameaça as políticas expansionistas do Império nas fronteiras da Amazônia. Afinal, a manutenção da anexação do Uruguai em 1822 por parte do Brasil revelava as ambições de expansão territorial do Império. As desconfianças eram tantas, que quando o “libertador” Simón Bolívar conclamou o Congresso Pan-Americano no istmo de Panamá, em 1826, o Brasil não foi convidado. Para Bolívar e outros chefes de governos republicanos das Américas, uma velha, apesar de recente, monarquia absolutista, não tinha espaço entre as jovens repúblicas latino-americanas que surgiam.
Foi só após o reconhecimento de outra velha monarquia europeia, a Inglaterra, em 1825, que o Brasil independente passou a ser aceito por parte de seus vizinhos latino-americanos nos anos seguintes, ainda com desconfiança geral. Afinal, a Inglaterra foi a potência mediadora da Convenção Preliminar de Paz que selou o fim da guerra entre as Províncias Unidas e o Brasil e marcou o surgimento do Uruguai independente (1828). Essa Convenção de 1828 marcou o início de relações bilaterais do Brasil monárquico e seus vizinhos republicanos.
Nas décadas seguintes, o Império do Brasil continuou a intervir na política platina de forma direta – militarmente nas disputas políticas tanto de Argentina como Uruguai –, e indireta – dando suporte a facções políticas em conflitos internos. Entretanto, a formação da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) parece ter dissolvido as desconfianças entre o Império e algumas repúblicas vizinhas. Na Guerra do Paraguai (1865-1870), o Império do Brasil e as repúblicas da Argentina e do Uruguai aliaram-se contra o Paraguai, uma república ditatorial, no maior e mais covarde conflito bélico da América do Sul. Nessa guerra, antigos inimigos viraram aliados e tanto a monarquia brasileira como a república Argentina acabaram por concretizar suas ambições expansionistas conquistando vastos territórios, então pertencentes ao Paraguai.
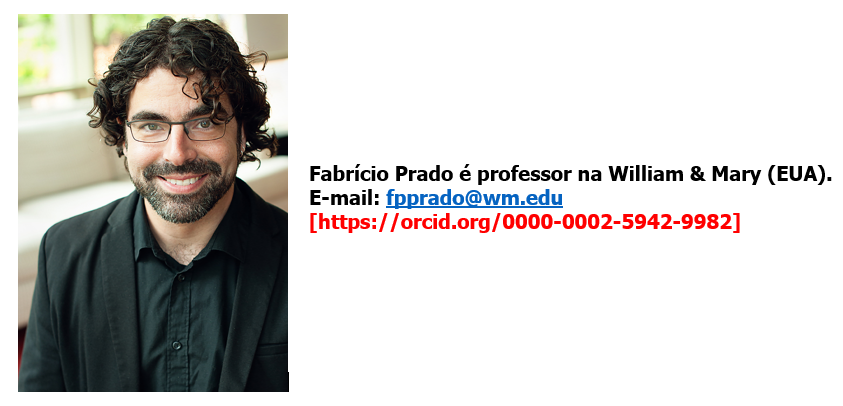
Saiba mais
PRADO, Fabrício. Comércio Trans-Imperial e Monarquismo no Rio da Prata Revolucionário: Montevidéu e a Província Cisplatina (1808-1822). Almanack, Guarulhos, n. 24, ed00819, 2020. DOI: http://doi.org/10.1590/2236-463324ed00819
CHASTEEN, John Charles. Americanos – Ideias e batalhas na Independência da América Latina. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2017.
PIMENTA, João Paulo. A Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana. São Paulo: Hucitec, 2015.
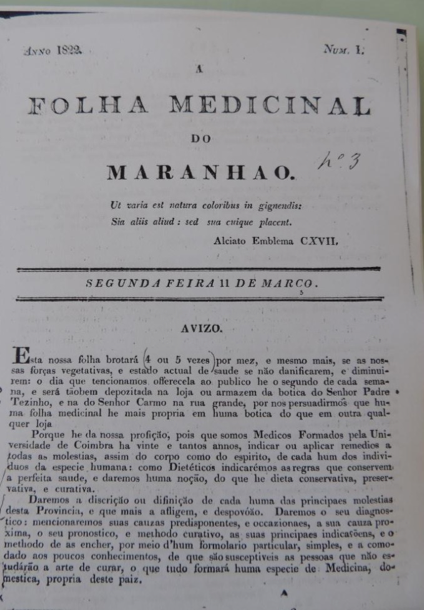
Folha Medicinal do Maranhão
QUEM LÊ TANTA NOTÍCIA?
Na época da Independência, centenas de periódicos e folhetos agitaram as ruas das províncias do Brasil
Marcelo Cheche Galves
Viver sob censura é mais comum do que imaginamos. Em Portugal, a liberdade de imprensa só veio com a Revolução Liberal de 1820, a mesma que obrigou o rei D. João VI (1767-1826) a jurar uma constituição. Pela primeira vez na história de Portugal (que também era a nossa!), experimentavam-se liberdades que hoje reconhecemos como fundamentais. Isso quer dizer que a Independência do Brasil, em 1822, ocorreu em uma época de grandes transformações. Um ano antes, foram eleitos deputados para as cortes portuguesas, responsáveis pela elaboração da primeira Constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves – denominação criada em 1815. Novos tempos aqueles. A constituição asseguraria os direitos políticos anunciados pela Revolução de 1820. Entre eles, a liberdade de imprensa, novidade que causaria grande furor. Era o fim da censura prévia. Agora, os homens livres poderiam debater publicamente sobre os rumos da nação portuguesa, e o fizeram principalmente a partir da impressão e leitura de periódicos e folhetos.
A liberdade de imprensa traria ainda outra novidade para a cena pública. Antes, e sob o controle régio, existiam apenas duas tipografias nas províncias do Brasil: uma no Rio de Janeiro, outra na Bahia. Agora, dezenas de tipografias, públicas ou particulares, se espalhariam também pelas províncias de Pernambuco, Maranhão e Grão Pará.
Nos dois lados do Atlântico foram impressos, entre 1821 e 1823, mais de oitenta periódicos e mais de quinhentos folhetos políticos. O público, acostumado à leitura de jornais oficiais e de outros conteúdos autorizados, agora poderia ler o que quisesse, sem ter que recorrer ao contrabando de papeis proibidos, sempre presente. Mas, o que era debatido?
A elaboração da Constituição do Reino, que ficaria pronta em setembro de 1822, provocou a discussão sobre muitos temas: a manutenção da escravidão; a situação dos libertos; a gradual cessão do tráfico de escravizados; a povoação do território americano com emigrantes europeus; a influência britânica sobre o governo português e, claro, a situação do Brasil perante todas aquelas transformações.
Entre os temas preferidos pela imprensa estava a autonomia que o Brasil deveria ter no Reino Unido português. Com o regresso de D. João VI (1767-1826) a Portugal, em abril de 1821, discutia-se qual deveria ser o papel do Rio de Janeiro na nova ordem política. Com o poder novamente concentrado em Portugal, o regente Pedro (1798-1834), que se tornaria imperador, deveria permanecer no Brasil?
Aos poucos, a divergência de opiniões a esse respeito evidenciou os interesses em jogo nas diferentes províncias do Brasil. Os papeis impressos no Rio de Janeiro, quase sempre, insistiram na permanência do regente, que resistia à decisão das cortes portuguesas, tomada em setembro de 1821, de que deveria regressar a Portugal. Nos meses seguintes, a maioria dos papeis impressos nas províncias do Norte manifestou apoio às cortes. Entre Lisboa e o Rio de Janeiro, preferiam Lisboa.
A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, teve efeitos diferentes no território americano. No Rio de Janeiro houve a concentração de poder político, de recursos públicos – aumentados pela maior cobrança de tributos – e de possibilidades de ascensão social: a corte era uma grande e promissora novidade! Nas distantes províncias do Norte, a situação era outra. Os benefícios trazidos pelo comércio direto com a Inglaterra, aliada de Portugal, não compensavam os custos para a manutenção da corte no Rio de Janeiro.
Quando se instituiu a liberdade de imprensa, essas divergências de interesses explodiram. Afinal, os problemas eram agora vividos publicamente. No momento em que a luta por mais autonomia se transformou em separação total, em setembro de 1822, os papeis impressos no Rio de Janeiro foram confrontados em províncias como a Bahia, o Maranhão e o Grão-Pará, que só aceitariam a Independência entre julho e agosto de 1823.
Os redatores, importantes para toda aquela agitação, movimentavam um mundo de futuro imprevisível. Muitos eram clérigos ou advogados, alguns ocupavam cargos públicos. Em tempos de acesso facilitado aos prelos, publicizaram demandas políticas controversas. Muitas vezes, terminaram presos, agredidos ou deportados, outros colheram os frutos da nova atividade e elegeram-se para cargos públicos.
A importância de publicar ideias políticas naquele momento pode ser medida pela atuação de alguns personagens. Homens como José da Silva Lisboa (1756-1835), o visconde de Cairu, e José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), depois conhecido como o “patriarca da Independência”, redigiram jornais e folhetos. Até mesmo o imperador Pedro, antes e depois da Independência, escreveu para jornais do Rio de Janeiro.
Enfim, a liberdade de imprensa sacudiu o mundo luso-brasileiro. Ainda que autorizado, o exercício dessa liberdade era uma aventura perigosa, mas fundamental. Ontem e hoje.

Saiba mais
CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; BASILE, Marcello (org.). Guerra literária: panfletos da Independência (1820-23). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades imperiais (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
STARLING, Heloísa Maria Murgel; LIMA, Marcela Telles Elian de. Vozes do Brasil: a linguagem política na Independência (1820-1824). Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2021.

Foto de autoria desconhecida. Retrata A cearense Antônia Alves Feitosa (Jovita Feitosa), mulher negra, de traços indígenas, aos 17 anos de idade cortou os cabelos, disfarçou os seios com bandagens, colocou um chapéu de vaqueiro e roupas masculinas para se alistar como voluntária do exército brasileiro na Guerra do Paraguai.
MULHERES NA INDEPENDÊNCIA?
Ausentes da historiografia, os lugares das mulheres brasileiras do século XIX continuam desconhecidos
Ana Maria Veiga
Falar sobre mulheres no período que ficou conhecido como Independência do Brasil (em torno do marco de 1822) é abordar ausências e como elas foram sendo construídas. Não que as mulheres inexistissem ou não tivessem papel social relevante, mas a elas não era dado o privilégio do protagonismo, social, econômico ou político. Se dizemos isso a respeito de mulheres brancas, o que pensar das mulheres negras, indígenas, sertanejas? Que “independência” era destinada a elas?
As mulheres rememoradas ao longo do século XIX vêm de uma pertença de classe definida. Além de brancas, são membras de famílias privilegiadas, que começam a ganhar o espaço urbano na transformação gradual de um Brasil em grande parte rural. No entanto, um amplo leque se abre entre a imperatriz Leopoldina (1797-1826) e as mulheres indígenas localizadas em seus territórios.
O protagonismo da existência sempre esteve nas mãos das excluídas da história – pobres, sertanejas, negras, indígenas, escravizadas. Raras vezes a bolha da historiografia foi rompida a ponto de chegar a elas, mulheres de vida comum, nos interiores e nas cidades incipientes.
A urbanização nas principais cidades, como Rio de Janeiro e Recife, marca a transição dos moldes da família senhorial para os da família burguesa, quando as mulheres ganham centralidade como reprodutoras/educadoras dos filhos e mantenedoras do sucesso dos maridos. Tornam-se visíveis como função social, não como sujeitos/as.
A Independência e seu entorno constituem uma história masculina. É o momento dos novos hábitos, do consumo de espetáculos e livros, que em pouco tempo alcançariam as famílias abastadas de municípios menores, por exemplo, do Rio Grande do Norte, onde nasceu Dionísia de Faria Rocha (1810-1885), que adotou o pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta, mais conhecida como Nísia Floresta. Aos treze anos, ela se casava pela primeira vez, para logo depois se separar do marido – um escândalo. Em 1832, publicou o texto “Direito das mulheres e injustiça dos homens”. Além de escritora, Nísia se destacou como jornalista, republicana e abolicionista, influenciando outras mulheres.
No ano que marca o Brasil independente, nascia em São Luís, no Maranhão, uma mulher “parda”, que seria tida como a primeira autora de um romance brasileiro – Úrsula (1859). Na atualidade, Maria Firmina dos Reis (1822-1917) é reivindicada pelo feminismo negro brasileiro como marco do abolicionismo a partir da sua escrita literária.
Para além das linhas centrais, a literatura de cordel e os livros de memórias trazem à tona figuras de mulheres sertanejas. Quando pertencentes às poucas famílias abastadas de suas regiões, elas se casavam muito jovens, pela reprodução de sua camada social, na maioria das vezes sem amor. As mais pobres não passavam por tantas exigências; de todo modo, mulheres solteiras nunca foram bem vistas, sendo consideradas um perigo social.
Existiam também escravizadas que formaram vínculos afetivo-sexuais não formalizados pela Igreja. Não tinham nomes de família, adotando sobrenomes ligados a santos, referências religiosas ou dos seus antigos senhores, quando alforriadas. Logo as que mais precisavam de liberdade ficaram fora da historiografia tradicional sobre a Independência. Havia uma contradição flagrante entre a monarquia “civilizada” e a vigência da escravidão no Brasil. Desse contexto, emergem personagens interessantes.
Eva Maria do Bonsucesso, por exemplo, foi uma escravizada que vendia quitutes nas ruas do Rio de Janeiro e conseguiu a prisão de um homem branco de prestígio. Ao reivindicar seus direitos pelo prejuízo causado por uma “cabra”, foi surrada pelo dono do animal, no meio da rua; isso foi em 1811 e o processado era um amigo, depois funcionário da família real. As escravizadas também reivindicavam direitos legais.
Gertrudes Maria, ex-escravizada sob condição, conseguiu um feito inédito na Parahyba do Norte, tendo entrado com recurso judicial nos anos 1820 contra tentativas de reescravização. Comprou metade da sua liberdade com o dinheiro do trabalho como quitandeira, mas teve que provar nos tribunais que sua história era verdadeira: para o pagamento da segunda metade, trabalharia para os senhores até o final das suas vidas. Mas ela ainda constava da lista de bens do casal e foi cobrada como propriedade a ser confiscada pelos credores. A querela judicial durou uma década e meia e Gertrudes virou símbolo da resistência negra.
Outra escravizada de destaque é Luiza Mahin, mãe do abolicionista Luís Gama (1830-1882). Embora a documentação não comprove isso, Luiza é reivindicada pelo movimento negro como uma das lideranças na revolta dos Malês, ocorrida em 1835 em Salvador. Nesse caso, a oralidade traz seu valor histórico.
Por fim, chegamos à mulher cuja história se confunde com o mito e que virou símbolo do silenciamento das mulheres negras no Brasil. Anastácia viveu na primeira metade do século XIX, tendo passado pela Bahia e por Minas Gerais até chegar no Rio de Janeiro. As imagens produzidas dessa mulher destacam os olhos verdes e a máscara de ferro cobrindo a boca. O motivo pode ter sido a rejeição ao senhor, o ciúme gerado pela beleza ou mesmo a punição pela ousadia. Com Anastácia, interrogamos a continuidade da herança escravista no Brasil independente e o racismo, estruturante, que ainda habita o cerne da sociedade brasileira. Junto a isso, os fatores gênero e classe intensificam a opressão sobre as mulheres, nesse e em outros períodos históricos.
Uma historiografia que considere a multiplicidade de opressões sobre as mulheres na Independência do Brasil ainda está por ser escrita, embora esforços já tenham sido feitos por autoras/es que expandem seus olhares para além das linhas centrais, que evidenciam mulheres destacadas em outras pesquisas. As ausências podem ser resolvidas com a simplicidade de um ajuste de lentes e interesses, além da (re)descoberta de nova documentação.

Saiba mais:
GOMES, Flávio, LAURIANO, Jaime; SCHWARCZ, Lilia M. (org.). Enciclopédia Negra. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
MAIA, Cláudia. A invenção da solteirona. Florianópolis: Editora Mulheres, 2011.
PRIORE, Mary Del (org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.
ROCHA, Solange. Gente negra na Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual. São Paulo: Ed. Unesp, 2009.

Carta de D. Pedro I a Joaquim Gonçalves Ledo, datada de outubro de 1822, marcando o reinício dos trabalhos da maçonaria. D. Pedro assina como Pedro Guatimozim, seu nome simbólico após a iniciação na maçon
DEFENSORES DA “CAUSA DO BRASIL E DA SUA INDEPENDÊNCIA”: MAÇONARIA E INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Alexandre Mansur Barata
Em 17 de junho de 1823, o periódico Atalaia, editado no Rio de Janeiro, ao repercutir os debates que ocorriam na Assembléia Constituinte sobre a abolição do Alvará de 1818 que proibia o funcionamento das sociedades secretas, publicou severas críticas à maçonaria e aos maçons: “É notório que oficiosos advogados da Ordem sombria, […] apregoam, que a esses bons homens se deve a Independência do Brasil, e a Aclamação do seu Imperador. Oh quinta-essência da calúnia!”. O redator da Atalaia era José da Silva Lisboa (1756-1835), notório defensor do imperador D. Pedro e da afirmação de uma monarquia centralizada na pessoa do monarca.
As críticas dirigidas aos maçons pelo Atalaia não ficaram sem resposta. De Pernambuco, Frei Caneca (1779-1825), nas Cartas de Pítia a Damão, publicadas em 1823, saiu em defesa da instituição: “[…] a maçonaria não é oposta ao cristianismo, nem tem coisa alguma com as diferentes formas de governo, pois se acha estabelecida e florescente em nações republicanas, aristocratas e monárquicas; o que tudo é contrário às ilações do pateta do Atalaia […]”.
Nessa guerra de palavras, fica claro que a participação dos maçons nas lutas políticas que tiveram lugar no Rio de Janeiro em 1822 foi objeto de debate entre os próprios contemporâneos e transformou-se num elemento importante para a demarcação das identidades dos diferentes grupos políticos em disputa.
O associativismo maçônico, como hoje o conhecemos, teve sua origem na Escócia e na Inglaterra na virada do século XVII para o século XVIII. Nessa época, diversas corporações vinculadas ao ofício de pedreiro deixaram de lado as preocupações tipicamente ligadas ao exercício da profissão para se dedicarem ao aperfeiçoamento moral e intelectual dos seus membros. Rapidamente, esse tipo de associativismo se expandiu tanto para o restante do mundo, tornando as lojas maçônicas (locais onde os maçons se reuniam) em espaços importantes de circulação das ideias ilustradas, bem como de aprendizado de novas práticas políticas.
Mas, essa expansão não ocorreu sem obstáculos, como foi o caso do mundo luso-brasileiro. Desde o surgimento das primeiras lojas maçônicas em Portugal, na década de 1730, a atividade maçônica despertou desconfianças. Temia-se que o caráter fechado e/ou secreto dessas reuniões era um artifício para encobrir práticas sediciosas contra o rei e a Igreja Católica. Situação só alterada pelo clima de maior liberdade vivenciado após a eclosão da Revolução do Porto, de 24 de agosto de 1820, o que contribuiu para um maior dinamismo da atividade maçônica nos dois lados do Atlântico.
No Rio de Janeiro, nos primeiros anos da década de 1820, o associativismo maçônico chegou a mobilizar uma parcela importante da população. Exemplos desse momento de maior dinamismo foram a reinstalação, em 1821, da loja maçônica Comércio e Artes e a criação, em junho de 1822, do Grande Oriente do Brasil. A intenção era transformar o Grande Oriente do Brasil em um centro do poder maçônico que subordinaria as atividades das várias lojas maçônicas existentes nas diferentes províncias do Brasil, dando-lhes um direcionamento e uma administração comuns. Desse modo, as lojas maçônicas em funcionamento no Brasil deixariam de estar subordinadas ao Grande Oriente de Portugal ou a outra organização maçônica estrangeira.
Contudo, o associativismo maçônico não formava um conjunto homogêneo. Ao contrário, ele era cruzado por diferentes disputas, projetos e ideias. De modo específico, no Rio de Janeiro, essas disputas ganharam uma dimensão mais explícita ao longo dos primeiros meses de 1822, a partir da formação de dois grupos: o grupo do Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847), de um lado, e o grupo do José Bonifácio Andrada e Silva (1763-1838), de outro. Apesar de vários pontos em comum, os dois grupos possuíam muitas divergências. O grupo do Bonifácio, por exemplo, teria exercido atuação decisiva nas articulações que culminariam no Fico, em 9 de janeiro de 1822. Por sua vez, o grupo do Ledo teria hesitado quanto a conveniência ou não da permanência do príncipe regente. Inicialmente, identificados com o constitucionalismo vintista e com as cortes de Lisboa, o grupo do Ledo, ao longo dos primeiros meses de 1822, passou a defender a convocação de uma assembleia constituinte no Rio de Janeiro, o que despertava desconfiança no grupo do Bonifácio. Sob a ascendência de Ledo, o Grande Oriente do Brasil definiu como condição para o ser maçom, além das qualidades morais tradicionalmente exigidas, o ser defensor da “causa do Brasil e da sua Independência”. Em agosto de 1822, por proposição de José Bonifácio, ocorreu a iniciação maçônica (cerimônia ritualística de admissão de novo membro) do príncipe regente D. Pedro (1798-1834). Talvez o intento do príncipe, ao aceitar ser iniciado, era ter um maior controle sobre os maçons, bem como contar com o seu apoio, visando mobilizar as elites provinciais resistentes à autoridade de seu governo. Por sua vez, para os maçons, a iniciação de D. Pedro era um meio de conquistar certa proteção. Dois meses depois, no início de outubro de 1822, D. Pedro foi aclamado grão-mestre do Grande Oriente do Brasil.
Mas a “proteção” durou pouco. A tentativa do grupo do Ledo, por ocasião da Aclamação de D. Pedro como imperador constitucional, em 12 de outubro de 1822, de impor ao monarca um juramento prévio da Constituição que seria elaborada pela Assembleia Geral Constituinte e Legislativa resultou na determinação do Imperador de interrupção dos trabalhos maçônicos. Por sua vez, José Bonifácio e seu irmão Martim Francisco colocaram, em 27 de outubro de 1822, seus cargos de ministros à disposição de D. Pedro, tão logo os trabalhos maçônicos foram reiniciados. Quando a notícia da demissão dos ministros foi conhecida, iniciou-se uma movimentação no sentido de fazer com que o Imperador reintegrasse os Andradas ao governo, o que acabou por acontecer. Reintegrado ao governo, José Bonifácio desencadeou violenta repressão aos opositores identificados com a liderança de Ledo, acusados de conspirarem contra o governo e de planejarem um “conluio republicano”.
Nos anos subsequentes à Independência, a atividade maçônica caiu na clandestinidade. Todavia, muitos maçons desafiaram a proibição de funcionamento das lojas e continuaram a se reunir, atuando na articulação de uma oposição ao governo de D. Pedro I. Apenas em 1831, após a crise política decorrente da abdicação de D. Pedro I, a maçonaria conseguiria se reorganizar e vivenciar uma situação de quase total visibilidade.
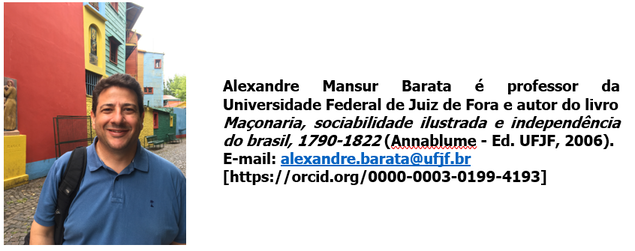
Saiba mais
BARATA, Alexandre Mansur. Maçonaria, sociabilidade ilustrada e independência do Brasil (1790-1822). Juiz de Fora: Editora da UFJF; São Paulo: Annablume, 2006.
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
NEVES, Lúcia Maria B. Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Revan-Faperj, 2003.
VILLALTA, Luiz Carlos. O Brasil e a crise do Antigo Regime português (1788-1822). Rio de Janeiro: FGV, 2016.

Os Guaranis (1823), Jean-Baptiste Debret
POVOS INDÍGENAS E A INDEPENDÊNCIA
Das matas às vilas, em rebeliões ou por escrito, os indígenas atuaram politicamente de diferentes formas na independência do Brasil
João Paulo Peixoto Costa
Para começo de conversa, é preciso saber que não havia (assim como não há hoje) uma forma única de ser indígena. Na década de 1820 eram compostos por incontáveis línguas, culturas, tradições, espiritualidades e formas de ver o mundo. Além disso, e talvez o mais importante para o que discutimos aqui, estavam submetidos a variadas condições sociais. Daí é fácil imaginar a diversidade de posições assumidas, das condições de envolvimento e dos impactos vivenciados pelos povos indígenas na independência do Brasil.
Os que habitavam seus próprios territórios, até então com pouco ou nenhum contato com os não indígenas, cada vez mais sofriam com a expansão agrícola. Com a independência, à frente da elite política e fundiária, Dom Pedro I deu seguimento às ordens que seu pai, Dom João VI, havia dado em 1808 e 1809 para eliminar os ditos “selvagens” das matas dos atuais Sul e Sudeste brasileiros. A tendência de avanço em territórios de povos não integrados à sociedade luso-brasileira seguiu firme em outras regiões do Brasil, com muitas mortes, escravizações, resistências e negociações. Apesar das grandes transformações políticas – chegada da corte ao Brasil, Revolução do Porto e Independência –, para esses indígenas, as invasões eram as mesmas e os desafios ainda maiores.
A discussão política sobre se os indígenas seriam ou não considerados cidadãos estava em aberto. O debate iniciou ainda nas cortes de Lisboa, parlamento que passou a governar o império português a partir de janeiro de 1821, como desdobramento da Revolução do Porto. Mas não havia dúvidas quanto à grande parcela da população indígena cujos ancestrais viviam integrados aos não índios fazia décadas ou séculos. Habitavam fazendas, pequenos lugarejos, vilas e cidades, na condição de homens livres e trabalhando de aluguel para proprietários e governos ou em terrenos próprios.
Esses grupos tinham uma longa tradição de relações de troca e fidelidade com o rei, por quem seus antepassados haviam lutado. A figura do monarca representava amparo contra os abusos de proprietários, ambiciosos de suas terras e de sua mão de obra. Por isso muitos índios tenderam a apoiar o príncipe regente quando as cortes de Lisboa impuseram o retorno de Dom João VI a Portugal e rivalizaram com Dom Pedro. Portanto, durante a independência, o que estava em jogo para alguns grupos indígenas era a defesa de seu protetor e, principalmente, a segurança de suas terras e a luta por condições dignas de trabalho.
Em regiões diferentes e tão distantes, esses povos acompanhavam as discussões na alta política e o que era decidido tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro. Agiam diante dos debates mais amplos e, por vezes, na defesa de grandes projetos, mas sempre conectados com questões locais e a partir de objetivos próprios. A partir das relações com proprietários vizinhos, autoridades da Igreja e de governo e outros grupos inferiorizados, davam forma às suas muitas atuações.
Os índios se envolveram em conflitos bélicos durante a Independência do Brasil. Várias tropas indígenas foram recrutadas para proteger o território contra uma possível invasão da antiga metrópole, como no litoral cearense entre setembro e novembro de 1822. Outras foram convocadas para combater agrupamentos fiéis a Portugal, como a que veio da serra da Ibiapaba, no Ceará, para um Piauí que ainda lutava contra tropas lusitanas em março de 1823.
Houve aqueles que empunharam seus arcos e flechas compondo revoltas e motins por motivos muito variados. Os mesmos que adentraram em terras piauienses, fiéis a Dom Pedro I, participaram de saques a casas de pessoas abastadas na vila de Campo Maior, dando gritos de “morra, é corcunda”! Termo pejorativo usado contra os inimigos da separação Brasil e Portugal, nessa situação foi estendido aos ricos, os verdadeiros inimigos das populações marginalizadas. Já os índios da vila de Cimbres, em Pernambuco, se posicionaram em 1824 a favor de Dom João VI. Motivados por desavenças contra as elites pernambucanas, também se opuseram à Independência e à Constituição.
No entanto, o que parecia ser mais comum era o engajamento dos índios no projeto de Brasil independente e identificando-se como “brasileiro”. No Pará, entre 1823 e 1824, houve incontáveis episódios de envolvimentos indígenas em revoltas. Nelas, buscavam muito menos se contrapor a europeus e mais lutar por uma nova posição social que não mais os obrigasse ao trabalho forçado. As disputas em torno do “ser brasileiro” expressavam os projetos políticos dos índios para a construção de uma nova ordem em que não fossem mais uma parcela inferiorizada das sociedades. Por motivo semelhante, a índia Dionísia e suas companheiras expulsaram da povoação de Baepina, no Ceará, em julho de 1822, o padre Felipe Benício Mariz e outras duas autoridades na base de bofetadas! Os índios vereadores da câmara de Vila Viçosa saíram em sua defesa, argumentando em um ofício que os escorraçados eram “inimigos da causa brasílica”, assim como os membros da Junta de Governo do Ceará, que deveria ser destituída.
Há ainda muito o que se pesquisar sobre a diversidade da atuação indígena na Independência, que ia da rebelião às ações escritas. Agiram de formas variadas e em condições bem distintas, com projetos próprios para o novo país e se valendo, inclusive, de preceitos liberais. No entanto, o Estado que se formou em seguida rapidamente os marginalizou. A Constituição de 1824 sequer os menciona, revelando o silêncio como método de um Estado de proprietários para, entre outras coisas, destruir o ancestral direito indígena à terra. Fato é que não se pode compreender a Independência do Brasil sem o protagonismo indígena e a importância do debate sobre essas populações na formação do país. As lutas atuais, como contra a aberração jurídica do “marco temporal”, têm uma longa e aguerrida história de povos que sempre estiveram e estarão por aqui.
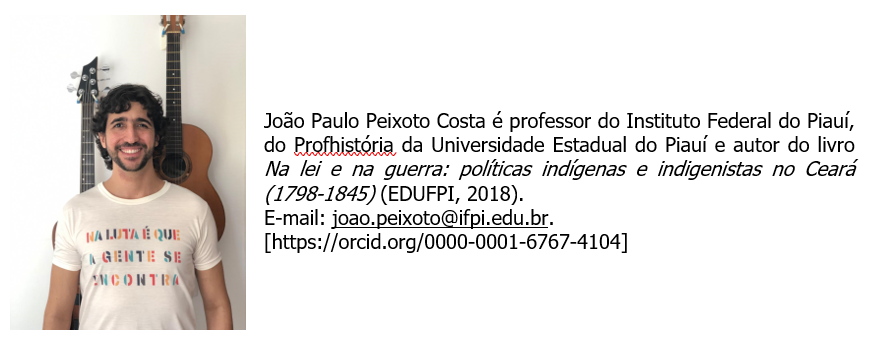
Saiba mais
DANTAS, Mariana Albuquerque. Dimensões da participação política indígena: Estado nacional e revoltas em Pernambuco e Alagoas, 1817-1848. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2018.
MACHADO, André Roberto de A. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime Português na província do Grão-Pará (1821-25). São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2010.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. A caverna de Platão contra o cidadão multidimensional indígena: necropolítica e cidadania no processo de independência (1808-1831). Revista Acervo. Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, p. 1-26, 2021.Disponível em: https://bit.ly/3IFQtIb. Acesso em: 27 jan. 2022.
MOREL, Marco. Independência, vida e morte: os contatos com os Botocudo durante o Primeiro Reinado. Dimensões. Vitória, v. 14, p. 91-113, 2002. Disponível em: https://bit.ly/3o3oLNs. Acesso em: 27 jan. 2022.
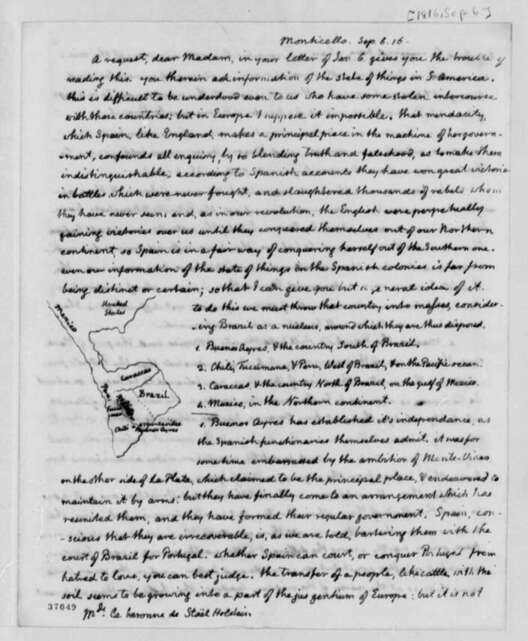
Thomas Jefferson a Anne L. G. N. Stael-Holstein, 6 setembro, 1816, com mapa das Américas. Thomas Jefferson Papers, Library of Congress, Manuscript Division.
OS EUA E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL: UMA HISTÓRIA ESCONDIDA
Autoridades Estado-unidenses foram as primeiras no mundo a dar as boas-vindas à monarquia Brasileira no cenário mundial, mas ativistas sociais tinham uma visão diferente.
Caitlin Fitz
Dom Pedro I “se regozijou além da conta” ao ouvir que os Estados Unidos da América (EUA) se tornariam a primeira nação do mundo a reconhecer a independência brasileira em 1824. O imperador esperava ansiosamente “a boa vontade de nossos vizinhos dos Estados Unidos”, escreveu um conhecido, e agora ele “mal podia se conter em si mesmo”.
O reconhecimento dos EUA foi uma surpresa bem-vinda. Um ano antes, o cônsul dos EUA no Rio havia relatado que a nova monarquia do Brasil manifestava uma “frieza” em relação aos Estados Unidos, um país orgulhosamente republicano. Em contrapartida, o povo estado-unidense sentia uma “antipatia horrorosa” contra as monarquias, preferindo de longe as novas repúblicas da América Espanhola, segundo informou o ministro do Brasil em Washington. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe (1758-1831), deu as boas-vindas ao Brasil no cenário mundial, em 1824, na esperança de ganhar acordos comerciais favoráveis ao se antecipar a Europa. Estadistas brasileiros e norte-americanos, assim, deixaram de lado suas diferenças políticas e forjaram um terreno comum como nações soberanas americanas. A “forma de governo” do Brasil, explicou Monroe, “não era nossa preocupação”.
Mas ao mesmo tempo em que Dom Pedro I celebrava, uma rede subterrânea de ativistas do Brasil a Boston abraçava uma visão diferente, que desafiava a relação diplomática formal de suas nações e, em vez disso, defendia o republicanismo hemisférico e, ocasionalmente, a abolição. A curto prazo, esses dissidentes transnacionais falharam. Mas a sua colaboração moldou ambas as nações à medida que o século XIX se desenrolava.
Em um hemisfério abalado por revoluções desde os Estados Unidos e o Haiti, até a Colômbia e o Chile, a Rebelião de Pernambuco ocupou um papel central de dissidência republicana na América Portuguesa. Em 1817, condenando os impostos e a estagnação econômica, os moradores pernambucanos se rebelaram contra a monarquia portuguesa com sua capital no Rio. Em 1824, eles se rebelaram novamente, denominando-se a Confederação do Equador e protestando contra a crescente autoridade centralista da monarquia independente brasileira de Pedro I.
Um dos líderes rebeldes de Pernambuco foi Manoel de Carvalho Paes de Andrade (1774-1855). Veterano da revolta de Pernambuco de 1817, Carvalho fugiu para os Estados Unidos no rescaldo da revolta. Admirou tanto o que viu nas terras do norte que batizou suas filhas de Carolina, Filadélfia e Pensilvânia. De volta ao Brasil em 1824, ele conclamou os pernambucanos a encontrarem inspiração semelhante. Mesmo “entre as Nações mais escravas tem brilhado homens livres”, ele disse aos seus conterrâneos em 1824; “Vós visteis Bolívar em Caracas, Morellos no México, Washington em Boston. Entre nós mesmos, ainda que mui raros, aparecem portugueses dignos de ter nascido em New York ou Filadelfia”.
Carvalho também pediu ajuda a comerciantes americanos em Recife, incluindo um comerciante branco da Filadélfia chamado Joseph Ray (?-1849). Conhecido por espalhar “Ideias Livres” no Recife, o novo ministro do Brasil para os Estados Unidos declarou Ray “um acérrimo motor de revoluções”. Após a revolta, Ray ajudou dezenas de revolucionários pernambucanos derrotados a escapar para os EUA. Indignado, Dom Pedro baniu Ray do Império em 1825. Mas Ray era só o começo. Como escreveu um oficial português, havia “infinitos Rays”.
Igualmente notório foi James Rodgers, um nova-iorquino branco de 25 anos (1800-1825) que comandou um navio pernambucano, cujo nome original era “Independência ou Morte”. Com certeza por isso, quando a Confederação entrou em colapso, uma comissão militar condenou Rodgers à morte. Na manhã de sua execução, Rodgers andava com “sua cabeça erguida extremamente alta”. Ele fez um discurso desafiador de dez minutos pedindo aos pernambucanos para continuar a luta, e implorou ao pelotão de fuzilamento “pelo bem de Deus para matá-lo rápido”. Ele morreu no segundo disparo ou talvez no terceiro.
A influência de ativistas existiu nos dois sentidos. Se os norte-americanos inspiraram periodicamente os pernambucanos, os pernambucanos inspiraram os estado-unidenses em retorno. Entre eles estava ninguém menos que Emiliano Felipe Benício Mundrucu (1791-1863), major do Batalhão dos Pardos em Recife, em 1824. Enquanto a Confederação do Equador tinha sido coletivamente ambivalente na questão da escravidão, Mundrucu foi firme. Ao contrário do branco Carvalho, que celebrava o exemplo dos EUA, Mundrucu exortou seus conterrâneos a imitar o Haiti. Quando a Confederação caiu, Mundrucu conseguiu ajuda de Joseph Ray, vestindo um traje durante o Carnaval e desfilando disfarçado em direção ao porto.
Ao chegar em Boston, Mundrucu usou seu conhecimento da escravidão brasileira e do ativismo entre pardos para ajudar a radicalizar o abolicionismo e o movimento inter-racial pelos direitos iguais nos EUA. Em 1825, Mundrucu conseguiu dar fim à segregação racial em uma loja Maçônica até então totalmente branca. Em 1833, depois de viajar brevemente para as repúblicas antiescravistas do Haiti e da Grã-Colômbia, ele retornou a Boston e entrou com o primeiro processo conhecido contra a segregação racial no transporte público na história dos EUA. Em discursos, livros e panfletos em todo o Norte dos EUA, abolicionistas negros e brancos citaram a sua experiência cosmopolita como exemplo.
É claro que nem todos os republicanos transnacionais eram anti-escravidão (assim como nem todos os ativistas antiescravidão eram republicanos). Dissidentes brancos como Carvalho, Ray e Rodgers eram entusiastas do republicanismo, mas permaneceram ambivalentes sobre a escravidão. Dos Estados Unidos ao Brasil e além, foram pardos e dissidentes negros como Mundrucu que pressionaram as redes republicanas internacionais a abraçar a abolição e a igualdade racial.
Carvalho, Rodgers, Mundrucu e os “infinitos Rays” que lutaram para estabelecer os EUA e o Brasil como repúblicas parceiras morreram antes que seu desejo se tornasse realidade. Em vez de partilharem uma forma de governo, o que os EUA e o Brasil do século XIX acabaram por partilhar foi um sistema econômico baseado na escravidão. O comércio ilegal de escravos africanos para o Brasil se beneficiou diretamente da cumplicidade dos EUA e, em meados do século XIX, os EUA, o Brasil e a Cuba espanhola formaram um contrapeso diplomático pró-escravidão em relação a Grã-Bretanha, Haiti e as novas repúblicas da América espanhola.
De qualquer modo, ainda que os Estados Unidos republicanos e o Império monárquico do Brasil tenham encontrado terreno comum em uma política externa de escravidão, dissidentes cosmopolitas continuaram a resistir. Entre 1838 e 1847, mulheres e homens negros nos Estados Unidos arriscavam suas vidas para libertar os escravizados brasileiros trazidos em navios que atracavam em Nova York. Mundrucu, por exemplo, continuou a lutar pela abolição transnacional. Ele morreu em Boston durante a Guerra Civil dos EUA, poucos meses depois de ter ajudado a organizar uma grande celebração pública da Proclamação de Emancipação de 1863, assinada pelo presidente dos EUA, Abraham Lincoln. Escravos e abolicionistas brasileiros, por sua vez, se fortaleceram com a abolição dos EUA, ajudando a abrir caminho para a Lei Áurea e a queda da monarquia em 1888 e 1889 – eventos que por si só refletiam não apenas uma política de cima para baixo, mas uma longa – e contínua – tradição de agitação popular transnacional.
Saiba Mais
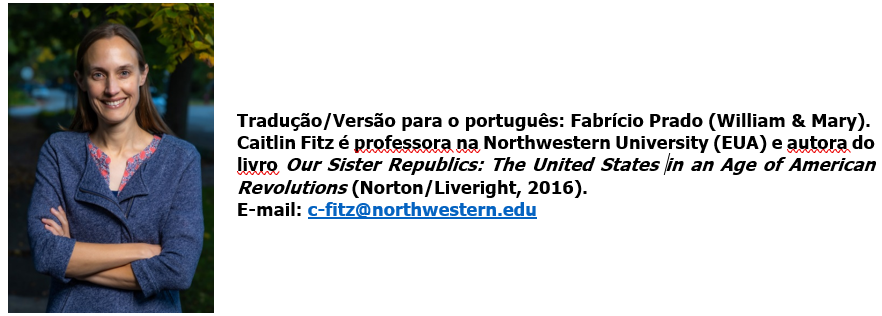
BRITO, Luciana da Cruz. Abolicionistas afro-americanos e suas interpretações sobre escravidão, liberdade e relações raciais no Brasil no século XIX. In: MACHADO, Maria Helena P.T.; CASTILHO, Celso Thomas Castilho. (ed.). Tornando-se livre: Agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição. São Paulo: Edusp, 2015. p. 429-449.
MELLO, Evaldo Cabral de. A outra independência: O federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34, 2004.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.
SCHREIBER, Mariana. Racismo: o brasileiro por trás de ação pioneira contra segregação nos EUA em 1833. BBC News Brasil, Brasília, DF, 10 maio 2021. Disponível em: https://bbc.in/3u49boY. Acesso em: 26 jan. 2022.

Antônio Parreiras. O Primeiro Passo para a Independência da Bahia (1931)
A INDEPENDÊNCIA E O PROTAGONISMO POPULAR
Na Bahia, uma guerra com grande participação de pobres livres, libertos – e até de escravizados – definiu o destino da região.
Sérgio Guerra Filho
Se reduzirmos a Independência do Brasil ao Grito do Ipiranga, o processo perde muito da complexidade que o caracterizou. Destaco aqui dois aspectos em especial: as múltiplas experiências vivenciadas nas diversas províncias e o protagonismo das classes populares. Na interseção dessas duas temáticas, está a Guerra de Independência ocorrida na Bahia, a qual não poderia ter acontecido sem a larga adesão e a decisiva participação popular.
Mesmo antes da guerra de Independência, a presença popular na vida política local é evidente. No bojo da chegada das notícias sobre a Revolução do Porto na Cidade da Bahia – como era conhecida Salvador – e nas vilas baianas, a população pobre teve grande importância, com seus ajuntamentos, gritando vivas, morras, aclamando quem apoiavam e ameaçando seus adversários. Exemplo desse papel exercido pelas classes populares pode ser visto logo após a eleição da Junta Provisória da Bahia. Insatisfeita com a ausência do general Manoel Pedro Freitas Guimarães na lista dos escolhidos, a multidão o aclamou e o fez constar no rol das recém-empossadas autoridades provinciais, em 10 de fevereiro de 1821.
As diferenças entre nascidos dos dois lados do Atlântico cresceram a ponto de acontecerem episódios como o da procissão de São José, no ano de 1822. No dia consagrado ao santo, 19 de março, portugueses aproveitaram a oportunidade para saudar a chegada de tropas que vinham do Rio de Janeiro. A procissão foi dispersada por pedras lançadas por jovens negros e mestiços do alto da ladeira.
Em 14 de junho de 1822, a Câmara da Vila de Santo Amaro realizou sua aclamação a Dom Pedro. Dias depois, o governador das armas Inácio Luiz Madeira de Melo, fiel a Portugal, enviou tropas em represália que promoveram atos de violência e vandalismo contra a população local. A 25 de junho, a vila de Cachoeira preparou o seu ato. Desde o dia anterior, muitas pessoas armadas se reuniram no distrito de Belém. Na manhã seguinte, dirigiram-se para a Câmara da vila, em frente à qual reuniu-se grande quantidade de gente. No rio Paraguaçu, defronte à vila, uma embarcação portuguesa, que ali estava a mando do General Madeira, começou a atirar contra a multidão que celebrava. Houve tiroteios pela vila. Depois de alguns dias, a embarcação foi tomada pela população local. Esse é considerado o início da Guerra de Independência na Bahia.
A guerra que se sucedeu ao 25 de junho não seria possível sem a presença maciça e decisiva das camadas populares. No contexto da formação do Conselho Interino de Governo – órgão sediado em Cachoeira, criado por representantes das vilas baianas para governar a província que se levantara contra o governo de Madeira –, houve uma significativa mobilização popular de alistamento voluntário nas tropas do Exército Pacificador, somando-se aos soldados de primeira linha que deixaram a capital em fevereiro. Segundo Luis Henrique Dias Tavares, os batalhões de voluntários foram formados por gente de diversas origens: pequenos proprietários, trabalhadores pobres livres, libertos e mesmo escravos. Esse foi o caso do batalhão Encourados de Pedrão, formado por vaqueiros do sertão baiano e liderado pelo frei José Maria Brayner.
Se é verdade que a participação do povo na Guerra de Independência está registrada tanto na historiografia quanto no imaginário baianos, as tensões e conflitos são muitas vezes esquecidos. Ao analisarmos a guerra da Bahia mais de perto, é possível ver uma realidade mais complexa. O próprio Exército Libertador foi um lugar privilegiado de rebeldia. Episódios de indisciplina, deserções, motins e sublevações foram recorrentes durante o tempo de guerra aos portugueses. Esses atos de rebeldia se dirigiam contra atitudes autoritárias dos seus superiores por parte dos soldados. Humilhações disciplinares, castigos corporais, alimentação precária e baixa remuneração foram motivos para deserções, motins e sublevações.
Há uma quantidade razoável de episódios de rebeldia popular que abalaram o que se chamava de “ordem e sossego público”. Ocorreram levantes de escravos, de grupos indígenas e de pobres livres que demarcam as tensões sociais que marcaram a guerra contra os portugueses. Entre novembro e dezembro de 1822, índios Aramarizes – recentemente dispensados do Exército Libertador – saquearam e atacaram o povoado de Água Fria, para horror das autoridades baianas. Ainda em novembro de 1822, cerca de 200 escravos atacaram as linhas brasileiras. Depois de derrotados, 51 deles foram fuzilados a mando do General Labatut.
Para as elites baianas, a implementação de seu projeto conservador representava um delicado dilema. Ganhar a guerra, expulsando os portugueses e integrando a Província da Bahia ao Império do Brasil significava, inevitavelmente, armar e organizar um contingente populacional potencialmente rebelde. Foi necessário estabelecer uma dura vigilância, submetendo os soldados à disciplina militar e os rebeldes à força da lei. As autoridades apelaram para um discurso patriótico, mas encontraram pela frente uma interpretação mais radical do que o desejado. Muitas vezes, soldados e civis resolviam, eles próprios, julgar e prender portugueses como inimigos da Causa do Brasil à revelia de seus superiores. As autoridades da vila de Camamu, assustadas com as hostilidades contra um juiz local tido como português, alertaram o Conselho Interino: “ficando isto sem exemplo, passarão a fazer o mesmo insulto a nós ou a outra qualquer Autoridade”.
A atuação popular durante a Guerra da Bahia não impediu a vitória do projeto conservador. Porém, marcaram profundamente, dentro das suas possibilidades históricas, o processo de formação do Império na Bahia. Na esteira de uma tradição rebelde, a plebe baiana marcaria os primeiros anos da Bahia imperial, depois de ter arriscado a própria vida numa guerra que não lhes rendeu o país que imaginaram.

Saiba mais
GUERRA FILHO, Sérgio A. D. O Povo e a Guerra: Participação das Camadas Populares nas Lutas pela Independência do Brasil na Bahia. (Dissertação de Mestrado) Salvador: UFBA, 2004.
TAVARES, Luis Henrique Dias. Independência do Brasil na Bahia. Salvador: EdUFBA, 2005.
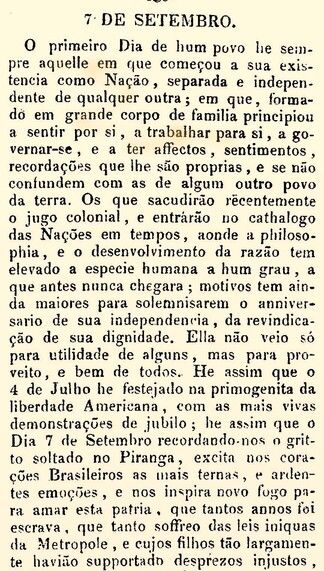
“Sete de Setembro”, Aurora Fluminense (Rio de Janeiro), 10 de setembro de 1830
QUANDO FOI A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL?
Na década de 1820, discutia-se o significado do 7 de setembro, que muitos não consideravam o dia da Independência
Hendrik Kraay
Quando foi a Independência do Brasil? A pergunta parece ingênua, pois todos sabem a resposta: no dia 7 de setembro de 1822, lá nas margens do Ipiranga, onde Dom Pedro I bradou “Independência ou Morte!”. A resposta não foi tão óbvia para os que vivenciaram aquele ano conturbado. Quando o príncipe Dom Pedro (ainda não imperador) foi para São Paulo, em agosto de 1822, já havia declarado, em um manifesto, a sua intenção de “anuir à vontade geral do Brasil, que proclama à face do Universo a sua Independência política”. De volta ao Rio de Janeiro, depois do Grito do Ipiranga, ainda era um simples príncipe. Apenas no dia 12 de outubro, seu aniversário, foi aclamado imperador e sua coroação ocorreu depois: no dia 1º de dezembro.
Cada uma dessas datas parecia abrir uma nova era. Mas, em 1822, poucos se preocupavam em especificar a data da Independência. Um decreto de dezembro que marcou os dias de gala da corte deixou de mencionar o 7 de setembro e, de fato, não identificou nenhum dia como o da Independência. O próprio Dom Pedro decretou que, “sendo conveniente memorizar a gloriosa época da Independência do Brasil e sua elevação à categoria de Império”, se contaria “o número de anos” decorrentes daquela época a partir do dia 12 de outubro, indício de que ele considerava a Aclamação mais importante que o Grito do Ipiranga.
Na segunda metade de 1823, ao chegarem os primeiros aniversários das efemérides de 1822, era preciso decidir quais dessas datas deveriam ser festejadas. A Assembleia Constituinte resolveu que o dia 7 de setembro fosse feriado nacional. Enviou uma grande deputação para parabenizar o imperador pelo primeiro aniversário da Independência. O embaixador dos Estados Unidos foi surpreendido pela “pompa militar, civil e religiosa” do dia, pois considerava o aniversário da Aclamação como o “verdadeiro dia da declaração da Independência”. O dia 12 de outubro foi festejado da mesma maneira, com salvas de artilharia, uma parada militar, uma missa na capela imperial, o cortejo no palácio (com a antiga cerimônia do beija-mão) e um espetáculo de gala no teatro. Pouco depois, o Imperador designou os dias 7 de setembro e 12 de outubro dias equivalentes de festividade nacional.
Na Corte, durante a década de 1820, comemorava-se mais o 12 de outubro do que o 7 de setembro, pois a Aclamação marcou a fundação do Império, enquanto o Grito do Ipiranga foi, para muitos, apenas a proclamação da Independência em uma província. A lei de 1826, que designou os dias de festividade nacional, consagrou o 7 de setembro como o da comemoração da Independência, mas no Rio de Janeiro, o dia 12 continuava a ser tão festejado quanto o dia 7.
A essa altura, as duas datas condensavam visões diferentes do Império constitucional. O dia 12 destacava o monarca e seu poder pessoal, enquanto o dia 7 podia ser interpretado como uma conquista popular. Em 1830, Evaristo Ferreira da Veiga explicou que, no dia 7, Dom Pedro “abraçou voluntariamente a nossa causa, declarou-se brasileiro também… e tornou-se assim digno de reinar sobre os brasileiros por unânime escolha da nossa recente associação política”. Para o líder dos liberais moderados, a nação estava acima do monarca. Nesse mesmo ano, partidários do monarca festejaram o dia 12 e exortaram os brasileiros a serem dignos da independência e das instituições concedidas pelo “mais magnânimo dos monarcas”, uma visão conservadora que colocava o imperador acima da nação.
Com a abdicação do primeiro imperador em 7 de abril de 1831, a disputa entre 7 de setembro e 12 de outubro foi definitivamente resolvida em favor do dia 7, embora alguns exaltados (liberais radicais) considerassem a abdicação uma nova independência. O Jornal do Comércio admitiu em 1831 que o ex-imperador havia se colocado à frente do movimento em 1822 para “não perder tão rica coroa”, mas julgou que o dia 7 de setembro marcou o “primeiro passo para a Liberdade”. Portanto, devia ser festejado pelos “bons patriotas”.
Como qualquer data comemorativa, o significado do 7 de setembro não era estável. A visão conservadora exaltava o imperador como o único responsável pela Independência, proclamada por ele no dia 7. A visão liberal, já visível nas declarações de Evaristo e do Jornal do Comércio, e mesmo no manifesto de agosto de 1822, sustentava que o imperador era o instrumento da vontade da nação brasileira, que queria tornar-se independente. Essa interpretação repercutiu nas províncias, cujas comemorações da Independência ainda foram pouco estudadas. Em 1829, os exaltados pernambucanos festejaram o dia 7 com um cortejo, uma alegoria da constituição e um hino radical:
Da pátria, os sacros direitos
Havemos firmes manter.
Morrer, antes, brasileiros,
Do que vis escravos ser.
Na Bahia, onde a guerra pela Independência se alastrou até o dia 2 de julho de 1823, não há indício de que o 7 de setembro fosse comemorado naquele ano. Já em 1824, um periódico baiano explicou que o dia era “do maior interesse para todos os Brasileiros, por ser o aniversário do dia em que o Nosso Augusto Imperador Constitucional gritou ‘INDEPENDENCIA Política do Brasil’”. Os baianos, todavia, prestaram pouca atenção ao 7 de setembro, pois na década de 1820 inventaram novas formas de comemorar a sua Independência: a festa do Dois de Julho, com uma grande parada que, ainda hoje, reproduz a entrada dos patriotas vitoriosos em Salvador. Já em 1828, patriotas baianos requereram ao parlamento que o dia 2 de julho fosse designado dia de festividade nacional. Desde então, têm sustentado que a vitória patriota e popular em 1823 é a verdadeira Independência brasileira.
A despeito da campanha baiana pelo reconhecimento do Dois de Julho, nem os esforços dos exaltados que consideravam o 7 de abril de 1831 como a verdadeira Independência, nem as tentativas dos conservadores de enaltecer o monarca por meio da comemoração do dia 12 de outubro de 1822, o 7 de setembro conquistou seu lugar como a data da Independência na primeira década do Império. Restava, e ainda resta, debater o seu significado e as formas condignas de festejá-la na procura de um passado que ajude a forjar um presente melhor para todos.
Saiba Mais
KRAAY, Hendrik. A invenção do Sete de Setembro, 1822-1831. Almanack Braziliense. São Paulo, n. 11, p. 52-61, 2010. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.1808-8139.v0i11p52-61
LYRA, Maria de Lourdes Viana. Memória da Independência: marcos e representações simbólicas. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 15, n. 29, p. 173-206, 1995.
SANTOS, Lídia Rafaela Nascimento dos. Entre os festejos e as disputas políticas: as comemorações do Sete de Setembro de 1829 no Recife. Clio. Recife, v. 33, n. 2, p. 74-99, 2015. Disponível em: https://bit.ly/3nWhgbl. Acesso em: 26 jan. 2022.

Negro feiticeiro (1828), Jean-Baptiste Debret.
AFRODESCENDENTES E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Esquecidos pela historiografia, saiba quem foram alguns dos “negros patriotas” que militaram na época da independência.
Luiz Geraldo Silva
Já ouviu falar de Pedro da Silva Pedroso ou de Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza? E os nomes de Emiliano Felipe Benício Mundurucu e Antônio Joaquim da Costa Ribeiro, lhe soam familiar? Pedroso, Cavalcante e Souza, Mundurucu e Ribeiro revelam importantes traços em comum: todos eles tiveram relações profundas com eventos capitais da Independência do Brasil, a exemplo da revolução de 1817 ou da decisão, tomada em janeiro de 1822, de o príncipe D. Pedro permanecer no Brasil. Outros traços importantes se referem a que todos eram militares de linha ou milicianos e exerciam ofícios artesanais – como de alfaiate, músico ou sapateiro. Finalmente: todos eram afrodescendentes, isto é, “pretos, “pardos” ou “crioulos”, como se dizia na época, o que significa que seus ascendentes maternos ou paternos eram africanos e, de algum modo, vinculados à escravidão.
Portanto, o status desses indivíduos na sociedade brasileira da época da independência também era, em última análise, associado ao cativeiro. Por essa razão, pesava sobre eles a condição de desigual num contexto em que a noção de igualdade conferia acesso à representação política àqueles que tomassem parte nas novas nações que então se prefiguravam, baseadas na soberania do povo, e não mais na do monarca ou soberano.
Desde a Conjuração Baiana de 1798, chegando até a abdicação do imperador, em 1831, sabe-se que esses “pardos” e “pretos” tiveram conhecimento das revoluções democráticas que tiveram curso nos EUA, na França, em Saint-Domingue e no Caribe espanhol. Em vários momentos eles se referiram a esses eventos e tiveram curiosidade em saber sobre eles: em 1805, por exemplo, milicianos afrodescendentes do Rio de Janeiro usavam no peito efígies de Dessalines, imperador do Haiti. Em 1818, os irmãos “pardos” Dorneles e Barbosa, ambos milicianos, alfaiates e moradores no Recife, perguntaram desavisadamente a um espião “como viviam os rebeldes de Saint-Domingue.”
Um número ainda não calculado de africanos escravos e, sobretudo, de afrodescendentes libertos e livres tiveram papel saliente na defesa militar, na condução e no destino final da república criada em 1817 em Pernambuco. Pedro da Silva Pedroso (1770-1849), por exemplo, destacou-se na ofensiva de deposição do governador Montenegro e, no plano político, ressalta-se sua ação enérgica na vitória do partido republicano sobre os monarquistas constitucionais. Frei Caneca escreveu em 1823 que Pedroso, na primeira reunião do governo provisório, realizada a 7 de março de 1817, “quis atravessar com a espada e matar a José Luís de Mendonça porque este fizera a moção de se estabelecer um reino constitucional em lugar de uma república”. Uma vez que se tornou pública sua fama de “principal herói militar” de 1817, Pedroso foi investido no cargo de coronel do exército republicano e, durante o processo de independência, foi governador de armas da província de Pernambuco (1822-1823).
Sua atuação em favor da república contradiz, todavia, sua adesão incondicional ao projeto imperial, que o levou, após liderar um motim no Recife, em fevereiro de 1823, a se aproximar de D. Pedro I. Foi graças a essa proximidade que Pedroso, então residindo no Rio de Janeiro, foi incumbido pelo imperador de debelar as forças da Confederação do Equador (1824). Curiosamente, Pedroso também esteve entre os militares que, em abril de 1831, conduziram D. Pedro I ao exílio – o que demostra o quão tortuoso foi sua trajetória pessoal.
Dois outros milicianos destacaram-se na Confederação do Equador – o “preto” Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza (1788-1825) e o “pardo” Emiliano Felipe Benício Mundurucu (1792-1863). Ambos lutaram contra a constituição outorgada do Império do Brasil e a favor do novo projeto republicano e separatista. Preso em fins de 1824, Agostinho Bezerra acabou enforcado em março de 1825, ao passo que Mundurucu seguiu por caminhos “atlânticos”: em dezembro de 1824, embarcou em navio norte-americano e se refugiou em Boston. Em 1825, fez breve visita ao Haiti e, em 1826, desembarca em Puerto Cabello, na Venezuela, onde se alista nos exércitos bolivarianos. Mundurucu regressa a Boston em 1827. Em 1836, quando obtém anistia, retorna ao Brasil, onde tenta se estabelecer como comandante de uma fortaleza. No entanto, vítima de sua antiga militância, tem seu posto negado. Em 1841, acaba retornando aos EUA, onde se torna um eminente abolicionista.
Embora identificadas com a luta pela igualdade política, essas trajetórias não conseguem, contudo, ocultar tensões que sacudiam as personalidades desses indivíduos. Afinal, eles viviam num contexto de transformações profundas, no qual aspirações do passado e projetos de futuro se mesclavam. O miliciano “pardo” José do Ó Barbosa, a quem coube costurar o estandarte da república de Pernambuco, em 1817, jamais abriu mão de possuir o escravo Melchior, o qual também foi acusado de se juntar às hostes revolucionárias. Após renegar a monarquia durante a revolução, Barbosa envergou, durante todo o tempo que esteve preso, a sua farda de capitão do Terço de Pardos. Por sua vez, enquanto esteve no Brasil entre 1837 e 1841 ao lado dos filhos e da esposa norte-americana, Harriet Jardine, o mais tarde abolicionista Emiliano Mundurucu sempre teve a companhia de um escravo. Em abril de 1840, ele obteve um hábito de ordem militar, a de Avis, e pareceu bastante satisfeito com a distinção que lhe foi atribuída pelo governo imperial.
O caso dos afrodescendentes paulistas também é sintomático dessas tensões internas aos indivíduos que confrontavam a velha e a nova ordem. Como se sabe, em setembro de 1821 as cortes enviaram ao Rio de Janeiro uma tropa de 1.200 soldados sob o intuito de forçar o retorno de D. Pedro I a Lisboa. O príncipe, em resposta, solicitou apoio militar às províncias de Minas Gerais e São Paulo, de onde seguiram 1.100 milicianos, dos quais 69 eram membros do Regimento dos Úteis, formado por “pardos”. Dentre eles, João Alves, carpinteiro, Bento da Silva e Antônio Joaquim de Almeida, sapateiros, e o alfaiate Antônio Joaquim da Costa Ribeiro, receberam condecorações e promoções, bem como solicitaram hábitos da Ordem de Cristo.
Essas tensões, típicas da fase da transição, também marcavam as trajetórias de brancos, filhos de europeus: basta destacar, por exemplo, como eles eram sedentos e ciosos de seus títulos nobiliárquicos inventados nos Trópicos. Isso leva a concluir que valores e significados daquela sociedade em transição permeavam a todos que dela faziam parte. O que havia de específico aos afrodescendentes naquela ocasião era algo muito mais complexo e profundo, algo que ainda urge na sociedade contemporânea: encarar o passado escravista, compreendê-lo, superá-lo e, a partir daí, construir as bases de uma sociedade verdadeiramente igualitária.
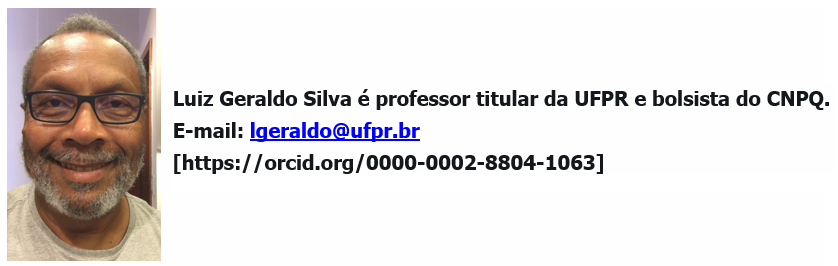
Saiba mais
BELTON, Lloyd. Emiliano F. B. Mundrucu: Inter-American revolutionary and abolitionist (1791-1863). Journal Atlantic Studies Global. London, v. 15, n. 1, p. 62-82, 2018. DOI: https://doi.org/10.1080/14788810.2017.1336609
SILVA, Luiz Geraldo. Afrodescendientes libres y libertos en Brasil y el mensaje revolucionario de Haiti (1779-1830). In: O’PHELAN, Scarlett. (org.). Una nueva mirada a las independencias. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2021, p. 65-89.
SILVA, Luiz Geraldo; SOUZA, Fernando Prestes. Negros apoyos. Milicianos afrodescendientes, transición política y cambio de estatus en la era de las independencias (capitanías de São Paulo y Pernambuco, Brasil, 1790-1830). Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2014, p. 1-25. DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.67529

Entrada da Barra do Rio de Janeiro (1835), Johann Moritz Rugendas.
EXISTIU UMA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL?
Obcecados por falar mal de si mesmos, os brasileiros costumam minimizar um dos acontecimentos mais importantes de sua história
João Paulo Pimenta
Os brasileiros têm uma inclinação por falar mal de si mesmos, de seu país, de sua população, de sua cultura. Nesse meio, acaba sobrando também para sua história. Uma história supostamente desinteressante, sem grandes acontecimentos, pacata e sonolenta, sempre um acordão meio secreto entre poderosos para manter ricos os ricos, e pobres os pobres. Nem uma independência digna desse nome o Brasil teria tido!
É certo que nem todo mundo pensa assim e sempre haverá honrosas exceções. Principalmente os brasileiros que não só se interessam por sua história, mas ainda procuram estudá-la com seriedade e rigor. Mas também é certo que nossos mitos nacionais são fortes, estão espalhados por toda a parte, se alimentam de desinformações (e comemorações) e acabam por confundir muita gente. Dentre esses mitos, está o de nossa não-independência.
Existiu, sim, uma independência do Brasil e fazer essa afirmação não quer dizer que este autor esteja elogiando nosso país ou nossa história. Menos ainda que ele goste de tediosas comemorações cívicas oficiais, acredite em heróis ou admire grandes feitos militares. Quer dizer apenas que, após estudar o tema, ele tem quatro coisas a dizer.
Primeira: em 1822, o Brasil começou a se separar de Portugal e isso não aconteceu de repente. Foi parte de um processo mais longo que, em alguns aspectos, começou em fins do século XVIII e, em outros, se completou nos primeiros vinte ou trinta primeiros anos do XIX. Até 1822, Portugal e Brasil tinham sido parte daquele enorme Império português que, em 1815, tinha recebido um novo e pomposo nome: Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quando o Brasil se separou, esse Reino Unido deixou de existir e o Brasil começou uma vida própria.
É certo que essa separação não foi total, completa e absoluta. Em muitos sentidos, o Brasil continuou a ser um pouco “português”. Em outros sentidos, também um pouco “colônia”. Mas isso é absolutamente normal. Nenhum país independente vive completamente livre de seu passado. Nenhum país é só novidade ou superação.
Segunda: quando se tornou independente, o Brasil foi virando, aos poucos, um Estado e uma nação soberanos – duas coisas que não existiam antes e que existem até hoje. Colônia de Portugal ele já não era fazia tempo: desde pelo menos 1808, quando a corte portuguesa veio morar no Brasil. Em 1815, o Brasil tinha virado um reino da mesma importância que Portugal. Mas a partir de 1822, outros países do mundo foram reconhecendo o Brasil como sendo mais um deles, como um membro de um sistema de relações internacionais sem o qual um país não pode – é assim até hoje – ser verdadeiramente independente.
Ao contrário do que se costuma pensar, em 1822 o Brasil não deixou de ser colônia de Portugal – como já disse, isso ocorreu antes – para se tornar colônia da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. Simplesmente, como qualquer país independente, o Brasil teve que se adaptar ao sistema internacional do qual ele passou a fazer parte.
Terceira: como tudo na história, as palavras e seus sentidos estão sempre mudando. Hoje em dia, a palavra independência pode significar, dentre outras coisas, poder, prosperidade, bem-estar, liberdade. Mas em 1822, ela queria dizer principalmente capacidade de tomada de decisão própria, sem ter que seguir as decisões de outro. E a independência do Brasil foi exatamente isso: um grupo bastante amplo de pessoas decidiu formar um novo governo e – aos poucos – um novo Estado e uma nova nação que não seriam mais portugueses, mas brasileiros. E fizeram isso no meio de muitas disputas, conflitos, revoluções e guerras (isso mesmo: o Brasil teve suas revoluções e guerras, e nossa independência juntou as duas coisas).
Quarta: a independência também foi uma mistura de outras independências menores, um monte de situações em que pessoas quiseram tomar suas próprias decisões de maneira livre, em defesa de interesses que nem sempre eram comuns a outras: ricos, pobres, brancos, pardos, pretos, índios, homens, mulheres… Alguns grupos perderam, outros ganharam, uns são hoje mais conhecidos do que outros, mas todos fizeram parte de um mesmo processo histórico e que não aconteceu em um só lugar, mas em muitas regiões daquele mosaico de lugares diferentes que era o Brasil de 1822.
Talvez a Independência não tenha sido aquilo que o leitor imaginasse. Certamente, ela não foi o que muitos de seus participantes quiseram que ela fosse. Tampouco foi exatamente o que dela fizeram governos, instituições, políticos e outros grupos específicos que, desde 1822, vêm comemorando, distorcendo e usando politicamente a História a seu bel-prazer, segundo seus interesses privados – no Brasil atual, inclusive. Todos esses desconhecimentos, frustrações e manipulações também contam suas histórias particulares, sem dúvida. E todos juntos formam a história da Independência, de sua memória e de sua atualidade.
Não só como História, mas também como memória, a Independência existiu. E é assim que ela continuará a existir, hoje e amanhã, no nosso Brasil. Gostemos dele ou não.
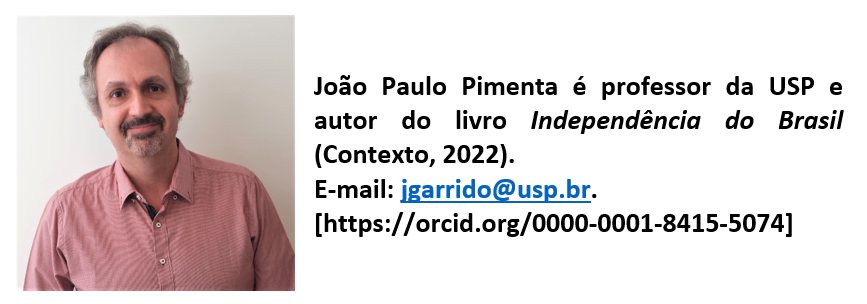
Saiba mais
JANCSÓ, István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005.
LYRA, Maria de Lourdes Viana. O império em construção: Primeiro Reinado e Regências. São Paulo: Atual, 2000.
MOREL, Marco. Frei Caneca: entre Marília e a pátria. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. A Independência e a construção do império, 1750-1824. São Paulo: Atual, 1995.
21,849 Total de visitas:, 23 Visitas hoje: